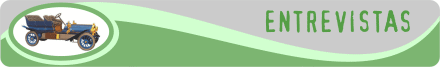 Gilberto Gil
Gilberto Gil

Durante o período que pesquisou e produziu a caixa de CDs "Ensaio Geral", lançada pela PolyGram em 1999, Marcelo Fróes realizou diversas entrevistas com Gilberto Gil - algumas para o projeto, outras para o "International Magazine". A seguir, em ordem cronológica, alguns dos trechos mais significativos para quem se interessa pelos anos 60 e 70.
PARTE 1
Entrevista para o "International Magazine", 1995
Gostaria de ter uma noção de como a Beatlemania e a Jovem Guarda te influenciaram.
Tudo! Sem dúvida, as duas coisas mexeram muito conosco. O Calhambeque e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, canções deste tipo e as interpretações do Roberto, as formações sonoras e as atitudes. Tudo aquilo nos impressionou e nos interessou muito. É evidente que a coisa dos Beatles era bem mais profunda, do ponto de vista da intervenção na alma da canção popular, porque tinha todo aquele lado experimentalista e mais aventureiro. Tinha mesmo uma criação musical mais arrojada. Tinha o próprio George Martin, com as contribuições da música atonal, serial e concreta, as influências de Stockhausen e todas aquelas coisas - montagens, gravações, inserções de falas, vozes e ruídos. Enfim, eles tinham todo um procedimento vanguardista ligado a uma noção de intervenção, da qual eles eram os maiores representantes. Aquilo tudo nos tocou muito. Eu diria que as duas coisas, ainda que com intensidades um pouco diferentes, tiveram uma importância muito grande para nós.
PARTE 2
Entrevista para o "International Magazine" 26/04/1997
- O curioso é que a nova geração, que vai assistir seu show no Hollywood Rock por saber que você foi um dos primeiros difusores do reggae por aqui e um grande artista pop a partir de "Realce", não tem muito registro de que você foi um artista de pop-rock no início dos anos 70. Ficou mais aquela imagem de "monstro da MPB".
O que eu acho que pode ter havido, sem dúvida houve, foi um hiato entre as coisas que eu fiz entre Domingo No Parque, Questão de Ordem e outros e o que rolou depois do exílio. Quando eu voltei com "Expresso 2222" e aquela banda, voltamos praticamente como desconhecidos...
... e com saudades da música brasileira, pois você fez Sai do Sereno etc. Mas os shows eram verdadeiros concertos de rock, que infelizmente não renderam um disco ao vivo.
Quando eu voltei, ainda voltei fazendo muito rock. Talvez até mais intensamente. Eu tenho dito reiteradas vezes que me tornei um bandleader lá, no sentido pop da palavra. Eu saí daqui tocando com banquinho e violão e voltei de lá com uma guitarra e uma banda roncando atrás.
Sim, mas isto não está bem documentado. Gilberto Gil é um dos monstros da MPB.
Sim, porque quando os Mutantes estavam inagurando o que se chamou a era rock moderna - e eles eram nossos parceiros -, eles ficaram aqui basicamente sozinhos. Eles, logo em seguida os Novos Baianos e a Gal, fazendo um pouquinho. Se eu e Caetano tivéssemos ficado, talvez tivéssemos nos tornado roqueiros, neste sentido! (rindo) Talvez, não garanto muito, mas era mais possível e mais provável que tivesse permanecido por um tempo mais longo com aquela marca, o que talvez tivesse deixado características impressas e uma marca histórica.
Ou seja, o rock foi te conquistando com o passar dos anos?
É, foi.
Se você não tivesse nascido na Bahia, não teria sido um tropicalista? Teria pertencido à Jovem Guarda?
Se eu tivesse nascido no Rio ou em São Paulo, é bem possível... (rindo) Como Tim Maia, como Jorge Ben, como esses artistas negros com interesse no pop rock, no blues, no funk e no samba, mas que foram por uma outra vertente. Eu acho que essa carência que você vê com relação a mim, eu também vejo em relação a Jorge Ben. Eu acho que não está nitidamente imprimida a imagem do Jorge Ben como artista de rock. Ele era da Jovem Guarda; ele foi do Tropicalismo e da Jovem Guarda. Se há alguém que, naquela fase embrionária do rock brasileiro, estava em todas as matrizes, é o Jorge Ben! (rindo) E, no entanto, também ele - quanto eu, quanto Tim Maia - não tem uma conotação muito rock, porque veio uma outra coisa logo depois. Quando, nos anos 70, chegou o rock, nós já não queríamos criar um grupo e dar um nome. Nós quisemos fazer um trabalho ligado ao conjunto múltiplo dos interesses.
Eu esperava que o documentário da HBO, que será lançado agora em VHS, fosse abordar um pouco isso.
Não, aquilo foi um documentário pessoal, foi um documentário sobre Gilberto Gil menino. Outros virão, que outros se interessem por fazer. De jeito nenhum me contraponho à sua visão, eu acho que está correta. Agora, há muitas explicações para isso. Se eu tivesse continuado com os Mutantes naquela época, por mais dois ou três anos, talvez eu tivesse me tornado um roqueiro.
Mas você voltou de Londres como um roqueiro.
Sim, mas já voltei fazendo outras coisas. O que abre o meu disco "Expresso 2222"? É a Banda de Pífaros de Caruaru, não se esqueça disso. Eu já voltei pós-rock! (rindo) A visão, a cultura e a informação era pós-rock. Era Paralamas já! (rindo) Já era Paralamas, já era Titãs, já era um rock voltado para as raízes e para os interesses locais e para as músicas de traço local.
Você voltou tocando Jimi Hendrix!
Eu gostava, mas eu tinha dificuldade em conceituar e conhecia pouco os antecedentes, como a Semana de 22 e os modernistas. Conhecia pouco dessas coisas, Caetano conhecia mais. Torquato também, até Capinam conhecia mais. Eu era o menos culto dos Tropicalistas, era mais Tropicalista por intuição.
PARTE 3
Entrevista para a caixa "Ensaio Geral", 1998
 Quando você ainda estava na Bahia, você gravou algumas coisas por uma gravadora pequena. Como foi esta fase?
Quando você ainda estava na Bahia, você gravou algumas coisas por uma gravadora pequena. Como foi esta fase?
Teve um compacto duplo pela JS, mas antes eu gravei dois 78 rotações... com músicas que inclusive não eram minhas. Eram de um autor de lá, um rapaz muito humilde - um funcionário público com aquela vaidade de querer ver as suas coisas gravadas. Nesta época eu tava trabalhando com Jorge Santos em jingles, começando a me enfronhar com a coisa do estúdio e eu era um cantor disponível - ligado ao staff do estúdio. Ele foi lá e encomendou estas gravações ao Jorge, pois ele queria gravar duas ou três marchinhas de carnaval que ele tinha. E eu gravei, acabei gravando a Marcha do Lacerdinha (N.Ed: na verdade Coça Coça Lacerdinha, lado B de Povo Petroleiro, jingle para a Petrobrás), que ésobre esse bichinho que dá nas árvores e que no final da tarde arde nos olhos. . Esse foi o primeiro 78 rotações, depois' eu fiz um outro com As Três Baianas, que mais tarde vieram a formar o Quarteto em Cy aqui. Neste segundo disco eu já gravei uma música minha, que era o Bem Devagar. Felicidade Vem Depois eu não gravei naquela época, embora tenha sido a primeira época a ser composta. Eu acho que o único registro dessa música está num compacto duplo que veio na revista "O Bondinho" (1972). No compacto duplo da JS entraram Serenata de Teleco- Teco, Maria Tristeza, Vontade de Amar e Meu Luar, Minhas Canções, que depois rendeu um último compacto com Decisão (Amor de Carnaval) e Vem Colombina. Depois disso tudo é que eu vim pra São Paulo e gravei aquele compacto pela RCA com Procissão e Roda.
Tanto nesse compacto como numa coletânea do "Festival do Balança", da qual você participou cantando I emanjá, há créditos que agradecem a cortesia de Discos Mocambo. ,
Estranho, porque eu não me lembro de ter sido contratado deles. Aliás, mesmo com Jorge Santos em Salvador eu não tinha contrato. Cada compacto que eu fIz com ele foi um negócio. Saiu errado então, porque nessa ocasião eu estava contratado pela RCA. ,
E a ida pra Philips? Você sentiu muitas diferenças nessas passagens, já que gravou inicialmente compactos num estúdio pequeno em Salvador, depois foi gravàr outro compacto numa grande gravadora em São Paulo e, depois, finalmente um álbum no Rio de Janeiro?
Foi logo em seguida, já pra fazer o disco "Louvação". Já havia diferenças notáveis, pois em Salvador era tudo gravado diretamente no acetato. Gravávamos com músicos disponíveis, na Bahia não havia gravadora com banda própria. Era músicos locais; Orlando, por exemplo, era um baixista que tocava tanto na sinfônica quanto em orquestras locais. Logo depois, quando gravei o compacto duplo, nós já gravamos num gravador de fita de 2 canais... mas as condições ainda eram muito precárias. O estúdio era pequeno e improvisado, mas era o único que existia na cidade. Foi feito especificamente para gravar jingles e pequenos spots de rádio.
Você fez muitos jingles?
Fiz alguns, uns seis ou sete. O Jorge Santos deve ter sim, ele tem... das lojas Cruzeiro, dos calçados Calma e da Polígono Filmes. O estúdio era preparado pra isso. Quando ele começou a gravar esses discos, eu me lembro que o primeiro disco do qual participei foi a gravação do Mestre Bimba, que era o grande mestre da capoeira local. O Jorge resolveu fazer um disco de capoeira, com os toques e os cânticos do Mestre Birnba, e nós fomos gravar com um pequeno gravador portátil lá na Amaralina, onde ele tinha uma academia. Depois é que vieram os meus discos, mas as condições eram muito precárias. Então, quando eu cheguei em São Paulo, esse primeiro compacto gravado sob a direção de Carlos Castilho, que fez os arranjos e dirigiu o estúdio - já foi num estúdio da Paula Freitas. Era um estúdio de 4 canais, profissional e com tratamento acústico e dimensões maiores. Bethânia tinha feito um LP, mas tanto eu como Gal e Caetano só fizemos compactos. Só gravei duas músicas na RCA, além daquela versão ao vivo de Iemanjá que está no disco do festival.
Você teve o privilégio de gravar como Gilberto Gil desde o começo, enquanto muitos grandes nomes começaram gravando como cl'OOner ou sob um pseudôDÔJ10 qualquer.
E verdade, mas eu comecei como Gilberto Moreira nos primeiros discos de 78 rpm. O EP já foi de GilbertoGit (...) Mas, enfim, minha ida para a Philips já foi em função do estouro da Bethânia, da empreitada do Teatro de Arena - que fez o "Arena Conta a Bahia", onde nos apresentamos todos juntos e onde despontamos para o público paulista. Aí, já tí., nhamos os compactos da RCA como referência de int...érpretes e compositores. Eramos promessas de gente promissora e aí a Philips, que estava começando um trabalho de formação de _novo cast com João Araújo, trouxe Caetano, Gal e eu. Quando Caetano voltou de Londres, Bethânia foi também pra Philips depois de alguns discos pela Odeon.
Quem produziu o seu primeiro disco?
Olha, eu me lembro que os arranjos foram feitos pelo Dori Caymmi e--pelo Carlos Montéiro de Souza, que era um maestro muito produtivo e solicitado naquela época. Bruno Ferreira, filho de Abel Feneira, hoje mudou de nome e recentemente dirigia a Orquestra Sinfônica da Paraíba, foi o violonista e também fez alguns arranjos. Acho que João Mello, uma espécie de produtor da casa, produziu esse disco. Ele também produzia Jorge Ben e outros projetos. .
Você lançou inicialmente um compacto no final de 1966 - Ensaio Geral, com Minha Senhora no lado B. Só no ano seguinte saiu o álbum "Louvação" .
Minha Senhora foi uma música do Festival Internacional da Canção, numa gravação da Gal com arranjo de Francis Rime. Eu sinceramente nem me lembrava de ter feito esse compacto antes do LP, nem tampouco esta gravação minha de Minha Senhora no lado B.
Quando seu álbum já estava estourado, inclusive com as novas versões de Procissão e Roda, você conheceu os Mutantes. Como foi seu primeiro contato?
Eu os conheci exatamente quando estava procurando elementos para montar a apresentação do Domingo No Parque no festival. Eu tinha conhecido o Rogério Duprat, que já tinha feito suas primeiras gravações de vanguarda com seu próprio grupo. Ele já era um nome que tinha despontado nessa área de vanguarda paulista e participava de um programa na Bandeirantes, que era comandado pelo Ronnie Von. Nesse programa se apresentavam os Mutantes e o Rogério Duprat tinha uma participação qualquer. Eu o tinha conhecido através do Augusto'de Campos e os Mutantes já exisnam.' Rogério é que me indicou Rita, Arnaldo e Serginho. O episódio foi engraçado, porque'a música já estava feita e classificada... e então eu tinha que pensar na montagem do número. Eu havia gravado uma demo de voz e violão e mandado pra lá, então eu tinha que não só gravar direito como também apresentar a música no festival. E, pra apresentar no festival, eu tíve que montar alguma coi~a e então pensei primeiro em utilizar o Quarteto Novo, que tinha se apresentado com o Edu Lobo em Disparada. Era um grupo com Rermeto Paschoal, Reraldo do Monte, Teo e Ayrto Moreira. Eu pensei nesse quarteto pra fazer comigo no Domingo No Parque e um dia fui falar com eles. Ayrto e Rermeto estavam no Canja, que é um instituto de música que existia em São Paulo e que fora criado pelos irmãos Godoy, do Zimbo Trio. Fui lá falar. com eles e disse que queria que eles fizessem comigo, só que com uns elementos novos... já que eu estava com os Beatles na cabeça, né?
Em momento nenhum você pensou em usar aquele grupo que o Caetano havia utilizado em Alegria Ale gria, os Beat Boys?
Não, o Caetano já tinha os Beat Boys com ele e eu queria uma coisa parecida. Na verdade, nesse momento em que eu estava procurando o Quarteto Novo, talvez o Caetano ainda não tivesse encontrado os Beat Boys. Mas já, de todo modo, queríamos - tanto eu quanto ele - um conjunto com abordagem contemporânea e que incluísse aqueles elementos...
... mas jamais um conjunto da Jovem Guarda, como Renato e seus Blue Caps, Incríveis ou Fevers,. que eram os grandes grupos da época, né?
A gente não tinha afinidade com eles. Não era nem questão de afinidade, a gente simplesmente não tinha aproximação. Nós éramos um grupo completamente diferente. Eles trabalhavam com o Roberto, a Jovem Guarda já tinha um status e era uma estrutura. Aquilo era uma redoma, o único da chamada MPB que chegava lá era Jorge Ben. Ele tinha trânsito, porque era da mesma turma que o Roberto aqui na Tijuca. Enfim, nós nãp entrávamos ali. Daí, quando eu cheguei no Quarteto Novo, falei com o Ayrto - que era quem liderava o grupo: "Eu queria fazer, mas eu queria botar umas coisas diferentes... a Ia George Martin, como no disco dos Beatles". Aí o Ayrto foi muito claro, muito enfático no sentido de dizer que não queria nenhum experimentalismo desse tipo. O som deles era um som brasileiro, nordestino com viola. Era um som violado, era aquilo Que depois veio a ser o Quinteto Violado. Aí eu disse: "Bom, se vocês não querem, tudo bem". Fiquei até um pouco decepcionado, porque eu queria muito e gostava muito deles. Eles eram a coisa mais nova na música popular, como um conjunto de quatro craques e tal. Eu tive que procurar e aí, nesse interim, relatando ao Rogério Duprat sobre minha intenção de fazer uma coisa "george martiana", "beatleniana" e tal, com aqueles elementos que me encantavam naquele momento, ele me disse: "Ah, tem um grupo que trabalha comigo lá na Bandeirantes, no programa do Ronnie Von, e que é perfeito pra isso. Se eles quiserem, vai ser bacana. Eu vou falar com eles". Ele foi, falou com eles, marcou um encontro e nós nos encontramos e daí veio Domingo No Parque.
E aí eles acabaram tocando em várias faixas de seu próximo disco, já em 1968.
Eles começaram a me acompanhar em shows e com isso gravaram várias faixas comigo.
Você foi responsável pela ida deles pra Polydor?
Um pouco, um pouco. Foi através de nós que eles vieram. Primeiro nós gravamos o disco "Tropicália", depois é que fizemos os LPs individuais meu e do Caetano.
Como foi a gravação deste disco? As faixas de cada um foram gravadas individualmente, para depois serem reunidas num disco, ou vocês realmente gravaram tudo junto?
Olha, não muito num clima de festa não. Eu tive muitas dificuldades na realização daquele LP, porque eu recusava muitos arranjos do Rogério Duprat. Eu tava numa dificuldade muito grande, porque eu tinha muito entusiasmo por todas aquelas investidas inovadoras mas era muito inseguro com aquilo tudo. Primeiro, porque eu não tinha domínio técnico de linguagem de instrumentação. Eu tocava mal e rudemente .meu violão, na linha da Bossa Nova e do regionalismo baiano-nordestino - vindo da tradição "caymmiana".
Seria como ir ao "Sgt. Pepper" sem passar pelo "Help!"?
Exatamente, sem saber nada. Eu nunca tinha pegado uma guitarra elétrica, eu nunca havia convivido com grupos de rock. Nada de nada de nada, então o Rogério Duprat, os Mutantes e os Beat Boys é que eram os únicos elementos com os quais nós contávamos especialmente o Rogério Duprat, que, muito entusiasmado com a coisa dos Beatles e com o experimentalismo do George Martin, encontrou um mínimo denominador comum. Nós admirávamos muito e queríamos trabalhar com aquilo, então ele é que era o grande entusiasta. Tanto é que todos os arranjos de "Tropicália" são dele, todas as músicas têm um arranjo orquestral.
Você fez Miserere Nóbis e Geléia Geral pensando na concepção do disco ou você já as tinha prontas?
Não, aquilo tudo já foi sob a égide de um manifesto tropicalista que Caetano e Capinan... e Torquato Neto escreveram, onde já se publicavam os princípios básicos daquele conjunto de atitudes e daquela empreitada artística nossas. E daí, essas composições já foram feitas em função desse conceito.
Questão de Ordem escapou de "Tropicália" e também de seu disco tropicalista.
Essa foi uma música do festival seguinte e ficou só no compacto mesmo porque foi feito para aquele festival. O "Tropicália" saiu antes, aí eu jáestou com os Beat Bqys e o Caetano com os Mutantes em E Proibido Proibir. Houve uma inversão. Eu não sei estou com o grupo completo, mas pelo menos 3 dos membros gravaram comigo - Tony Osanah, Willy e Marcelo... lohn, um hippie americano que eu havia acolhido em minha casa, também partici; pou da gravação... to, cando percussão numa calota de fusca.
Pouco depois veio a prisão e com ela, o exílio e a despedida com Aquele Abraço. Você já sabia que teria que partir quando a compôs e gravou?
Sim, porque eu tinha vindo ao Rio para tratar a minha saída do país com o Segundo Exército. No avião, na volta para Salvador, eu terminei de compor. Comecei na casa da Gal...
Daquela safra de composições, muita coisa acabou sendo gravada pela GaI: A Coisa Mais Linda Que Existe, Cultura e Civilização e Com Medo ComPedro. Você também tocava muito nos discos de Gal e de Caetano, exercia muito a função de compositor e músico.
Eu era uma espécie de coringa do grupo, né? Mesmo com Bethânia, taMbém, muito depois. Como eu era tido como o "músico do grupo", muito embora não saiba exatamente por que - já que meu desenvolvimento ainda não era lá essas coisas.
Mas o próprio Caetano reconhecia isso, afinal ele demorou muito a tocar em seus shows e em seus discos. No próprio disco dele de 69 vocêé quem abre, tocando violão naquele "false start" de Irene. Vocês parecem ter gravado tudo junto naquele início de 1969, antes de partir para o exílio. Tanto seu disco quanto o dele?
Sim, nós viajaríamos no dia seguinte... num domingo. Na véspera, nós gravamos Aquele Abraço com produção de Manoel Berenbein. O velho Marçal toca, comandando a bateria. Fizemos isso aqui no Rio e eu me lembro que Wilson das Neves toca, as meninas das Gatas também estão lá. Eu játinha gravado o resto do disco na Bahia, em bases de voz e violão registradas no estúdio JS. Nós estávamos em prisão domiciliar em Salvador e Rogério Duprat foi pra lá e nós gravamos tudo só com voz e violão. O estúdio JS só tinha os mesmos dois canais que eu havia deixado pra trás em 63. Os dois LPs, o do Caetano e o meu. As fitas foram gravadas lá e o Rogério as trouxe, para que fosse feita a complementação em playback.. O conjunto de baixo, guitarra, bateria foi adicionado aqui, juntamente com os metais do Chiquinho de Morais. Eu não pude acompanhar esse trabalho, mas graveiAqueleAbraço pra fechar o disco.
Você gravou demos de Cultura e Civilização e Com Medo e Com Pedro nesse mesmo dia, além de uma versão do Hino do Bahia em dueto com Caetano Veloso.
Pois é, eu nem sei porque Cultura e Civilização não entrou no disco. Eu fiz lá em Salvador, nesse período do confinamento.
Como foi a experiência em Londres? Você começou a compor em inglês, mas já tinha domínio da língua quando foi pra lá?
Não, eu não dominava nada. Eu tinha os rudimentos do ginásio. E tinha tido alguJJ;l contato assim mais regular com leituras em inglês, muito dificultosas, na época da faculdade. Muito da literatura disponível era em inglês, então eu tinha que ler com o auxílio de um dicionário. Conseguia ler, mesmo que mal, mas não falava nada. Lá em Londres nós fomos pra escola, Caetano também foi estudar inglês. Tínhamos a expectativa de ficar lá e não sabíamos por quanto tempo, então tínhamos que começar a nos preparar para ficar.
Vocês viviam de que? De royalties de disco?
Sim, de royalties.
Então naquela época disco dava dinheiro?
Dava pouco... e a gente vivia com pouco. Vivíamos basicamente com isso, mas depois de um ano nós começamos a tocar - com a perspectiva de gravar lá, que surgiu através dos contatos da própria Philips daqui. ~alph Mace, que veio a ser o produtor dos nossos discos lá, ele tinha relacionamento com a Philips, e ficou sabendo que nós estávamos lá em Londres e que éramos dotados de um talento e de um propósito artístico. Enfim, foi recomendado a ele que cuidasse da possibilidade de nos aproveitar em gravações. Ele foi, tomou contato conosco e arrumou o selo Famous Music e se incumbiu da produção. Foi aí que eu mandei chamar o Tutty Moreno e o Caetano mandou chamar o Momó, Moacyr Albuquerque, que haviam sido músicos nossos nas últimas realizações lána Bahia... antes de virmos para São Paulo. E aí Caetano fez aquele primeiro disco, com músicos ingleses, e eu fiz um disco com Tutty Moreno e um baixista.
O que aconteceu com seu disco?
Foi lançado em Londres e também nos Estados Unidos, ocasião em que fui aos Estados Unidos pela primeira vez. Não aconteceu nada de excepcional, mas os discos nos introduziram na área dos experts. Na verdade, no meu caso o disco serviu para que eu me chegasse com o conjunto de meu repertório. Eu fui convidado a fazer shows em Nova Iorque, a propósito do lançamento do disco, e eu cantei parte do repertório do disco mas principalmente coisas que não estavam no disco e que eu trazia do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de televisão chamado Camera 3, que ainda existe até hoje na TV americana. Esse programa teve certa repercussão e eu me apresentei num teatro off Broadway, com uma ambientação produzida pelo Hélio Oiticica. Esse disco abriu caminho pra mim na Europa também, porque eu me lembro que fui me apresentar na Alemanha e na França. Ele sâiu em vários países.
Você então começou a gravar um segundo disco em inglês, que você largou para trás quando voltou para o Brasil em 1972.
Pois é, eu não me lembro nada desse disco. Eu tava dando prosseguimento natural, da mesma forma como Caetano fez "Transa" em seguida a seu primeiro disco em inglês. Eu fiz umas quatro ou cinco músicas mas parei, não só porque estava voltando como também porque não tinha material para complementar. Eu não tinha orientação suficientemente clara para prosseguir, mas estava sendo produzido por Ralph Mace. Tutty Moreno e Chris Bonnett estavam comigo, mas eu já estava numa outra fase. Eu já não estava tão na coisa de ficar em casa compondo, eu jáestava solto e já era amigo de Jim Capaldi.
Não deu tempo de gravar nada com esses amigos como Jim Capaldi?
Não deu tempo, provavelmente nesse momento teria rolado alguma coisa. Eu saía muito, gostava de tocar bongô nas jam sessions do Revolution e do Speakeasy. Eu tocava com o guitarrista do King Crimson e também com Dave Gilmour, do Pink Floyd, além de Jim Capaldi e Alan White que era da Plastic Ono Band; ele trabalhou com Lennon e Yoko, antes de ir pro Yes. Terry Reed, um R&B branco da tradição de Alexis Korner, e John Mayall também. Minha turma era essa, então eu já não tava muito no projeto pessoal. Mas aí, quando esses desdobramentos de relacionamentos iam começar, é que eu vim embora. Quando eu ia começar a realmente conhecer outras pessoas, através do Jim Capaldi e do David, eu voltei.
O que fez você voltar? Você não gostava de lá?
Ah, mas a perspectiva de voltar era grande.
Você não pensava em dividir seu tempo, indo e voltando?
Não, eu vim e reassumi. Viajar era mais difícil, era preciso que houvesse os interesses manifestados claramente a partir de lá. Eu voltei e me reintegrei completamente à vida brasileira e à expectativa de carreira no Brasil. Eu sófui retomar o interesse internacional em 1978, quando fui pra Montreux.
"Expresso 2222" foi gravado com muitas músicas que você trouxe de Londres, num clima de ,quase ao vivo. i
Ele e Eu já tinha vindo de lá, Expresso 2222 também. Aqui eu me reencontrei com a música nordestina e épor isso que coloquei Pipoca Moderna no começo do disco. Sai do Sereno também, eu tirei essa de um disco do Abdias. Aí eu retomei a paixão pela música nordestina.
Mas você voltou com uma banda e começou a fazer shows, bem antes de gravar o LP "Expresso 2222". A impressão é de que foi gravado prat~camente ao vivo...
E, mas ele foi todo montado no estúdio. Ele foi concebido e ensaiado no estúdio, muito embora eu tivesse feito apresentações com o grupo. Bruce Henry era o baixista, Tutty Moreno era o baterista e o Perna Fróes era o tecladista etc. Brand New Dream talvez fosse do repertório daquele segundo disco em inglês, mas ficou só no show. Quando eu fui fazer o "Expresso 2222" com a produção do Roberto Menescal, nós refizemos tudo no estúdio. Por exemplo, o Bruce não se adaptou com o samba e o Lanny, que era o guitarrista, pegou o contrabaixo e gravou Chiclete Com Banana. Lanny toca baixo porque o Bruce ainda não estava suficientemente integrado.
Houve algum choque, quando você entrou em estúdio com toda essa carga inglesa com alguém como Roberto Menescal?
Pra ele talvez, provavelmente tenha havido... (rindo) Pra mim não, eu tava com a minha turma. O Perna tinha se integrado também e o Lanny, que nós tínhamos deixado aqui, havia sido reintegrado ao grupo aqui. Só tinha vindo de lá comigo, afinal o Bruce também foi integrado aqui. Nós formamos o grupo aqui e estreiamos em Recife, no Teatro do Parque. Em seguida, nós gravamos o LP com produção do Menescal.
- Algum tempo depois você começou a gravar um novo álbum, iniciando com Só Quero Um Xodó. A música era de Dominguinhos e o próprio entrou em estúdio contigo. De onde surgiu esta aproximação?
Eu conheci Dominguinhos quando ele foi com Gal para uma apresentação no Midem, no início de 1973. Foi ali que ele me apresentou o Xodó e nós apresentamos a música lá, daquele jeito mesmo. Eu me lembro que nós voltamos e logo entramos em estúdio, para gravá-Ia para um disco meu. Originalmente a música tinha sido gravada pela Anastácia, mas ela era um xote bem regionalista. Comigo ela já ganhou uma levada de blues e acabou virando um xote-reggae, né? Eu cheguei a gravá-Ia de uma forma bem reggae no show do Tuca, lançado no disco ao vivo do ano seguinte, mas ele acabou só tendo músicas inéditas. Ali a idéia éra gravar um disco inédito mesmo.
É o disco menos comercial de sua carreira.
É, mas teve Lugar Comum, João Sabino, Menina Goiaba e Herói das Estrelas, além daquela música do Caetano, Sim Foi Você. Esse disco mereda ser remontado, porque é bem exíguo em sua concepção de LP e o CD comporta muito mais tempo.
Em Menina Goiaba você faz referência ao disco que nunca foi feito. Numa entrevista sua naquela época, você fala que está fazendo muitos compactos mas não queria fazer um LP.
É, eu não fIz um LP e é por isso que eu fIz aquele disco ao vivo no final de 1974. Porque eu deveria ter feito um disco depois do "Expresso 2222", mas eu não o finalizei. Aquelas gravações que ficaram pra trás dão um disco inédito.
Mas você acabou indo trabalhar com João Donato, produzindo um disco em que na verdade você chega a cantar. E o LP "Lug~r Comum".u
E verdade, eu não só' toco e canto algumas coisas como também compus quatro ou cinco músicas. Eu canto A Bruxa de Mentira... É, eu conheci o João Donato através da Miúcha - que tinha voltado dos Estados Unidos depois de sua separação de João Gilberto. Nós ficamos amigos e Donato era muito amigo dela. Nós nos conhecemos e, enfim, fizemos de imediato uma amizade e começamos a conviver. Passávamos noites e noites por aí, juntos, na casa de Caetano e na casa de amigos dele. E aí, pronto, fizemos muitas coisas através dos anos... inclusive A Paz.
E Jorge Mautner, como você conheceu?
Eu o conheci em Londres, ele tinha ido de Nova Iorque para Londres... especificamente para nos visitar e nos conhecer. Ele tinha nos conhecido muito rap,idamente em São Paulo.
E, ele gravou alguns compactos na RCA na mesma época que você, Caetano e Gal.
É, com a história da Bomba Atômica, né? Nós sabíamos da existência dele, porque ele foi para os Estados Unidos. Quando nós fomos para Londres, ele acabou indo visitar-nos em 1970. Ele fez o filme "O Demiurgo" lá eonosco, é um fIlme completo. Eu faço papel de um deus e toco alguma coisa. Nós acabamos fazendo muitas coisas juntos, inclusive no disco inglês três músicas são parcerias nossas.
De repente, você fez mais músicas com Jorge Mautner e com João Donato do que com Caetano.
Ah sim, com Caetano não chega a dez. Ele se refere a isso como a autonomia, como a independência dos dois projetos. Há uma autosufIciência, então ele supre suas próprias necessidades como músico e eu supro as minhas comoletrista. Só raramente nós nos encontramos...
E quanto ao trabalho com Jorge Ben naquele lendário álbum duplo?
Nós estávamos ali, éramos ambos da PolyGram na época, tínhamos uma admiração mútua muito forte... Já tínhamos cantado Jazz Potatoes juntos no "Phono 73", né? Enfim, a gente já vinha com essa idéia de fazer alguma coisa juntos. Aí foi a oportunidade, incentivados pelo André Midani... nós gravamos ao vivo no estúdio. Fizemos coisas curiosíssimas, eu me lembro por exemplo da gravação do Taj Mahal. Nós tínhamos ens,aiado Morre O Burro, Fica O Homem e o Jorge começou a tocar a introdução e eu achei que a gente ia gravar Morre O Burro. Mas aí ele começou Taj Mahal... (rindo) e foi tudo gravado já pensando num disco. Nós realmente estávamos fazendo um disco já ali. No Glorioso São Cristóvão, ele achou um santinho no estúdio e foi fazendo a música. Jurubeba foi a mesma coisa, eu bebia jurubeba e levei uma garrafInha pro estúdio. Era um estimulante que eu gostava de tomar, aquilo era um hábito da Bahia. Aí, brincando no estúdio com "juru juru juru jurubeba", a música foisurgindo. E as outras todas também, foi tudo improvisado.
Como foi "Refazenda"? Desde o início ele já tinha toda aquela concepção, com orquestra e tal?
Já, foi conceitual sim. Depois do "Expresso 2222", aquele foi meu primeiro disco conceitual. Aliás, daí em diante todos os meus discos passaram a ser conceituais. Eles continuaram a ser conceituais, como tinha sido o disco do Tropicalismo.
Phil Collins diz que disco conceitual ficou perdido no tempo e que ninguém mais faz isso.
Ah, mas nós continuamos fazendo. Caetano faz, "Estrangeiro" é e "Circuladô" é. "Parabolicamará" é, "Eterno Deus Mú"n.
"Refavela" também?
Sim, imagina... "Refavela" é o segundo da trilogia iniciada com "Refazenda". Depois veio o terceiro com "Realce", pois o "Refestança" foi só uma brincadeira no meio de tudo... porque a Rita quis brincar com o "re". Todos três têm seus manifestos. "Refazenda" é o manifesto do ~ecuo, da retaguarda e da volta; "Refavela" é o que revela, fala e vê a coisa da música negra; e "Realce" fecha a trilogia, com um salário mínimo de cintilância. Foi o terceiro movimento, mas quando eu fiz o "Refazenda" eu não sabia que estava inici,ando uma trilogia. Quando eu fui pra Africa é que me apareceu o "Refavela" e aí eu concluí que depois teria que fazer um terceiro.
Você nunca pensou num quarto volume?
Não, porque eu queria uma trilogia. Os volumes ficaram afastados pelo tempo e por outros projetos, como foram os discos dos Doces Bárbaros, o "Refestança", o "Antologia do Samba Choro" e o "Ao Vivo Em Montreux", Foram três discos de estúdio onde eu entrei para fazer três pronunciamentos claros a respeito de certas coisas, portanto aí reside o sentido conceitual de cada um dos três discos. É o conceito do re, que passou por todos os três e que depois, na Warner, nós rnisturalI)os os três discos no "Re-Sol- Vida". E a solução, "resolvida", talvez o quarto volume a que você se referiu. E uma coletânea que mistura o repertório dos três discos, misturados e divididos em "Re", "Sol" e "Vida". Foram três LPs...
As músicas do "Refazenda", disco que você demorou tanto a fazer - já que "Expresso 2222" é de 1972, já vinham sendo trabalhadas?
Já vinham sim, muito embora eu só tocasse O Rouxinol em shows. Ela é da mesma época de Lugar Comum, eu acho que fiz ambas em Salvador na mesma semana. Eu estava gravando um disco em estúdio mas nunca terminei, depois gravei o "Refazenda" todo de uma vez. Só aproveitei Essa é Pra Tocar No Rádio, que tinha inclusive o Dominguinhos tocando sanfona... na mesma época de Só Quero Um Xodó. Mas deixei pra trás todo um trabalho... que, de todo modo, eu quis que fosse feita toda uma coleta de todo esse material. Mesmo o que não saia tudo numa caixa, depois a gente vê o que vai fazer. Na verdade, o material inclui muitos elementos que não são comerciais e que não devem ser encarados como repertório para coletânea.
PARTE 4
Coletiva de imprensa para o lançamento da caixa, 03/03/1999
 Falando sobre essas gravações mais antigas, você disse que começou a se ver melhor e mais apurado como músico a partir de "Refazenda". O que representa esta caixa, que traz suas primeiras gravações?
Falando sobre essas gravações mais antigas, você disse que começou a se ver melhor e mais apurado como músico a partir de "Refazenda". O que representa esta caixa, que traz suas primeiras gravações?
Este panorama amplo, que uma caixa deste tipo pode dar de uma época e de um período longo e significativo, me dá muito esta idéia do artista em formação - no meu caso. E, ao mesmo tempo, me dá assim uma resignação em relação a coisas que eu não vou aperfeiçoar nunca, limites que eu não vou superar nunca. Ou seja, características que afirmam aquilo que é mesmo o indivíduo - o artista em sua individualidade, tendo que abrir mão do sonho de ser tudo. Esse sonho é uma coisa que o artista sempre tem, né? De ser tudo e de ser todos, de conter todos e de realizar talvez melhor que todos os outros talvez aquilo que os outros são. O artista tem essa ambição louca, não de ser o melhor mas de ser tudo. (rindo) E você, trinta e tantos anos depois, sendo um homem com 56 anos, quando olha pra trás e vê aquilo tudo - ainda que sejam fragmentos, são lâminas de microscópio, mas o microscópio tem essa função de ampliar e revelar coisas -, vocêvê o perfil de certos corpúsculos que formam os objetos daquela época. Então você vê quanta coisa, como você era diferente e ao mesmo tempo permanece o mesmo. E aí vem as outras questões todas, você vê o envelhecimento e você vêo tempo passar. Você vê o frescor de uma voz descuidada, de artista jovem ali na sua impetuosidade, volúpia, frescor, espontaneidade. Tudo está muito cru ali, especialmente quando você lida com objetos que foram já naquela época recusados ou refugados por não obterem padrões mínimos de qualidade. Então tem uma desqualidade que é muito reveladora, porque a qualidade de uma época mostra muito. O best seller ou o masterpiece de uma época mostra muito o significado do que se pode obter naquela época, mas os fracassos de uma época também ensinam muito sobre ela. Não quero dizer que esse disco seja necessariamente um disco de fracassos. Ele não chega nem a ser isso, mas se você considera - por exemplo - que num disco como "Refazenda" ou "Refavela" você gravou 15 músicas e lançou 12, deixando três, por que é que essas três foram deixadas? O que é que é aquilo? O que foi que te fez abandonar aquelas três crias ali no meio do caminho? Por que éque só àquelas outras você deu o barco pra fazer a travessia, deixando as três ali à margem? (rindo) O que significa isso, essa "marginaliazinha" toda desses fragmentos perdidos aí naquele tempo? O que eles significam? Eles trazem muito, eles dizem muito sobre a história e sobre a minha própria história: pra onde eu quis caminhar e onde eu rejeitei. Sabe, eles dão muito indicação do tipo de visão que eu tinha sobre o que deveria significar um disco no mercado naquela época. As escolhas vão dando muito idéia de conceitos sobre significado da carreira e do trabalho. Isso do ponto de vista do artista mesmo, mas além disso tem as leituras de época. Por que é que naquela época você fazia canções daquele tipo e com aqueles temas? Eu acho que tem essa coisa toda, tem muitas leituras e muitas direções.
Além de ter reconquistado parte de sua obra, que estava com outras editoras, quais foram as dificuldades que você teve para chegar a esta caixa?
Esta caixa, na verdade, ela tem a facilidade de ser um sítio arqueológico preciso e bem delimitado. E aquele material, é aquele pedaço de terra daqui da PolyGram. É tudo aquilo que foi feito aqui nesse campo, que é um campo onde o Marcelo foi pesquisar. Então ele tinha esse benefício de encontrar um campo muito bem delineado - que são os arquivos aqui da PolyGram. Ele tinha que escarafunchar aqui dentro, procurar nas prateleiras e com os velhos técnicos que ainda estivessem aqui ou já fora da companhia. Então isso é a caixa, nesse sentido. O Marcelo estava me relembrando agora que já são quase 4 anos desde'que ele veio pra cá pela primeira vez, enfim, para garimpar esse trabalho e esse arquivo todo. Então tem uma facilidade por aí, por essa delimitação de campo. Agora, é um baú remexido com muito pedaço de coisa de todo lado: pedaços de. show, pedaços de discos que foram abandonados, gravações de entrevistas e muita coisa. Muito material mesmo.
Seu desenvolvimento na época foi um tanto atrapalhado pela ditadura. Você fez três discos, um deles acabado até depois que você saiu para o exílio. Até que ponto você acha que seu desenvolvimento foi prejudicado por essa situação política?
Aí é difícil avaliar... o que é que eu poderia ter feito diferentemente do que fiz, se diferente fosse a situação do país. "Expresso 2222" já é o disco da volta, em 1972, quando você já encontra um esboço de abertura na dificuldade do regime ditatorial de manter aquele passo. A sociedade já estava dando sinal de cansaço da ditadura, que a princípio pode ter até beneficiado o sentimento geral. Muita gente quis e acha que pode ter sido boa pro Brasil aquela fase desenvolvimentista, com o controle e a erradicação do protesto - que, de uma certa forma, impedia um pouco o sistema de deslanchar. E eu fico pensando que, ao voltar e retomar aqui o trabalho, já era um pouco essa atmosfera de abertura e "vamos todos trabalhar pra que tudo melhore". E é um começo de acanhamento e recolhimento gradual da ditadura, com o final do Governo Médici e depois Geisel.
Mas quando você foi pra Londres teve um projeto interrompido.
Sim, o Tropicalismo, que era tudo aquilo que agente fazia. Era aquele ímpeto que a gente tinha e tudo aquilo foi' cortado. Mas, na verdade, a gente não pode dizer e saber o que realmente deixou de ser feito. Porque o Tropicalismo não era, como de resto qualquer movimento em geral não é, um projeto que você tenha todo descrito de antemão; quer dizer, um projeto com metas muito bem estabelecidas e prazos que você vá cumprindo. O Tropicalismo não era assim, a gente não tinha um projeto - um ideário tropicalista nesse sentido da ação no tempo e no espaço. A gente tinha uma série de sentimentos, sensações, noções sobre o que era a cultura e o meio cultural onde a gente atuava. A gente sabia o que deveria ser e quais as transformações imediatas que a gente queria propor e March 20, 199gestimular na questão cultural brasileira, mas de uma certa forma aquele primeiro pe~íodo e aquele primeiro conjunto de ações tinha se esgotado. A gente tinha feito o que a gente tinha se proposto a fazer, naquele primeiro momento. As intervenções tinham sido feitas, as canções novas e as novas bandas e as novas atitudes e os confrontos necessariamente surgidos com parte da inteligentzia brasileira e com a mídia e com a sociedade civil ou com o governo militar. Tudo aquilo já tinha se dado, basicamente. Inclusiva, o fato de que a gente acabou preso e expulso do país foi muito sintomático de que a gente tinha cumprido um ciclo. Quer dizer, o entendimento e o desentendimento - as duas coisas a respeito do movimento - tinham se dado nos graus mínimos pra que uma relação estivesse claramente estabelecida entre nós e a sociedade brasileira. Nesse sentido é que eu não vejo muito a interrupção. O que se interrompeu ali foi o nosso processo, que poderia desembocar logo ali adiante em alguma coisa que já não pudesse mais ser vista sob a vigência do signo tropicalista. Talvez a gente tenha ficado, permaneCido e, como eu digo, até hoje tropicalista um pouco até por causa daquela interrupção. Se a gente não tivesse sido interrompido ali, talvez a gente tivesse superado o Tropicalismo muito mais rapidamente! (rindo) Porque também a sociedade brasileira teria, junto conosco, processado mais rap~damente os estímulos, as propostas e as provocações tropicalistas.
Na caixa, dentre o material inédito, um disco que recebeu o nome de "Cidade do Salvador" é o que mais está na idéia de projeto em andamento e que você interrompeu. O que te levou a largar aquele disco? Ali tem bastante músicas que foram regravadas.
Porque, na verdade, aquele disco foi interrompido mas substituído por um outro. Porque eu lancei "Refazenda", né? Na verdade, o que substituiu aquele disco ali me parece que foi o disco "Ao Vivo" de 1974, que é projeto contemporâneo. Ele é da mesma época em que eu estava gravando aquele disco. Eu Só Quero Um Xodó é de 1973, ela foi feita ali naquele período - como Doente M 0rena, Cidade do Salvador, Essa é Pra Tocar No Rádio. Essa é Pra Tocar No Rádio, inclusive, é a única remanesct::nte daquela produção para ir para o disco "Refazenda" .
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu período de Londres. Ouvindo "O Viramundo", dá pra ver que o rock'n'roll tá forte ali. No texto do encarte, o Marcelo fala que se você tivesse ticado em Londres talvez tivesse se transformado num roqueiro.
É, a gente especulou um pouco sobre isso um dia, se eu teria ficado mesmo roqueiro ou não - apenas um admirador à distância, digamos assim, um interloctor entre o rock e a MPB, como eu me tomei. Talvez eu tivesse me tornado, se tivesse ficado mais tempo lá. Eu toquei com David Gilmour, com o pessoal do Moody Blues, toquei com o Terry Reed e com o pessoal de jazz que frequentava muito. Toquei com Jim Capaldi e também com Alan White, que tocava com a Plastic Ono Band naquela ocasião. Ele era amigo, frequentador lá de casa. A gente tinha uma turma, eu frequentava muito. Nós todos frequentávamos três ou quatro bares, casas noturnas importantes e seminais do rock e que eram o Marquee Club, o Revolution, o Speakeasy e o Ronnie Scotts, que tinha jazz em baixo e upstairs o rock'n'roll. Então essas casas, e muitas outras - como a Roundhouse e o Lyceum, onde eu vi o show de véspera de Natal de 69 com Yoko, Iohn Lennon e a Plastic Ono Band. Se eu tivesse ficado ali, é possível que essa turma tivesse de alguma maneira me arrastado um pouco mais pra lá. Pelo andar da carruagem ali, é mais provável que eu me ligasse mais a esse pessoal do que ao pessoal do jazz. Porque eu não era capacitado ou habilitado musicalmente, no sentido do adestramento. Eu não tinha condições de me tomar um jazzista, ainda que eu pudesse fazer abstrações com improvisos "picas si anos" . Mas eu não tinha sido adestrado suficientemente na fase figurativista do jazz... (risos) Eu não tinha nas mãos aquilo, então eu teria ido pra área do ruído e do barulho, pra área stockhauseana do rock'n'roll.
Em termos de lisergia, essa trilha sonora de "Copacabana Mon Amour" é uma coisa meio livre...
... absolutamente, aquilo não é... não é quase nada! Nós chegamos a ir para um estúdio de 4 canais ou de 8 canais, um estúdio pequeno ali no centro de Londres.
Parece muito com aquele seu disco com Jorge Ben.
Ah, é aquilo, é aquela coisa ainda muito mais precária, feita com três músicos: eu, um semi-amador nesse sentido - com muito pouca capacidade e adestramento para improvisações -, o Péricles Cavalcanti - um violonista iniciante, começando a tocar violão naquela época e David Linger, também um flautista amador, hippie amador. Eu toquei, dobrando tambores e percussão e coisas desse tipo, e basicamente pegando pequenas vinhetas - algumas com pequenos textos ilustrativos, ou no sentido geral do filme e de seus personagens. O próprio diretor foi transformado em personagem, Mr. Sganzerla, que era o Rogério Sganzerla, em 10 ou 12 ou 15 minutos de improvisão precária, insipiente e muito pobre. Mas isso é um pouco do que eu falava aqui: o lado pobre de algumas propostas recuperadas por esta caixa mostra um pouco também isso. Os fracassos também revelam muito sobre uma época, às vezes tanto ou mais que os próprios êxitos. É engraçado, ganhamos muitas coisas e perdemos muitas também. Mas é sempre assim, e sempre assim.
Tem uma faixa em que você fala que o som tá ruim, o pessoal da platéia fala que tá bom e aí você diz que tá ruim mesmo.
Tá ruim mesmo, né? Mas tudo isso é revelador também. Como era o som? Como era a amplificação, a monitorização e qual era o padrão da época? Quer dizer, quanto avançamos de lá pra cá? Coisas desse tipo. É parametral, todo esse material oferece e dá muito esse sentido de parâmetro para análise e avaliação.
E quanto ao seu segundo disco de Londres, que é citado no livro mas que não foi encontrado?
Era um disco também incompleto, um disco que eu fazia e que teria sido o meu segundo na Inglaterra. Caetano chegou a fazer dois: ele fez o primeiro e fez o "Transa". Quando ele estava fazendo o "Transa", na mesma ocasião eu estava fazendo este disco, que eu não terminei. Eu cheguei a gravar seis ou sete músicas, duas ou três delas talvez tenham sido completadas com playbacks e tudo mais. Mas eu larguei no meio e vim embora.
Que músicas era essas?
Ah, uma delas foi recuperada. Brand New Dream é uma delas, porque eu cheguei aqui cantando nos shows com a banda Expresso 2222. Eram canções em inglês, basicamente...
Você acha que é possível fazer hoje o que você fez na época de "Cidade de Salvador", brincando e improvisando no estúdio?
Os estúdios de gravação hoje terceirizaram tarefas. Você hoje faz as demos, começa em casa - onde já tem condições de produzir quase com a mesma capacitação com que você produzia em estúdios de 8,16 ou 24 canais. Tendo um computador, você pode ter N canais em casa, com microfones baratos e de boa qualidade. Os instrumentos e os teclados, que imitam etc, enfim, tudo isso ; que você já sabe, taí disponibilizado para o artista. Então os demos hoje substituem esse trabalho. Outro dia um produtor americano, que ia produzir um disco do Milton, fez como primeira exigência o pedido de que o Milton lhe gravasse um demo! (rindo) Você veja, Milton N ascimento, com 30 anos de gloriosa carreira no Brasil, tem que mandar um demo. Mas isso não queria dizer necessariamente nada em termos de desrespeito, ignorância da importância do trabalho do Milton. São modus operandi mesmo, hoje o pessoal precisa. Você já chega no estúdio com as obras prontas, todas dissecadas em suas partes: rítmica básica, instrumentação acústica ou eletrônica, timbragem dos metais e cordas. Você faz tudo nas pequenas versões de demonstração, então essa coisa de você ir pro estúdio hoje é complicada. Você só pode reproduzir na verdade um pouco aquela atmosfera de estúdip ao vivo, fazendo um show e gravando 'umshow. É isso que você faz! (rindo) Você recupera um pouco quando grava ao vivo! E aí eu volto à questão do G~ammy por "Quanta Gente Veio Ver". E aí que tá, esse prêmio tá premiando uma coisa um pouco perdida no tempo - que é o demo, o fresh, o disco feito ali pra valer e de verdade total. O disco ao vivo é que recupera o espaço, esse espaço do aprimoramento. Porque ele é gravado de um show que vai pra estrada e que faz 10, 20 ou 30 apresentações. Você ensaia, ensaia, ensaia e um dia grava. Pronto. No estúdio, você geralmente não tem isso. A não ser os grandes artistas, como Paul McCartney, Michael Jackson e Prince - que tem seus estúdios em casa. Quer dizer, são lugares de residência. Eles residem parcialmente naquele lugar, o Prince passa 15 dias do mês dele dentro do estúdio, que é sua própria casa. Ele grava suas próprias coisas e produz outros artistas. Quer dizer, aquilo ali são grandes laboratórios. A não ser nessas circunstâncias dos grandes laboratórios, dos grandes criadores internacionais, do ponto de vista de uma gravadora essa coisa não existe mais. Todo esse processo é terceirizado, o artista já traz de casa e terceiriza pros pequenos estúdios. O primeiro produtor produz seu demo, depois vai passar pra um outro produtor pra fazer o disco. Hoje em dia temos todas essas linhas de escala da especialização. Quanto ao "Cidade do Salvador", eu já nem me lembro porque foi que a gente o abandonou. Eu tenho a impressão de que tava ficando e era mesmo muito desenfreadamente experimental. Era a época da banda que eu chamava de Banda Neura, porque era uma banda de gente maravilhosa porém difícil: Rubão Sabino, Aloysio Milanez e todo aquele jazz, aquela mania desenfreada pelo free jazz. Cada música virava 10 ou 12 minutos, assim, Cidade do Salvador tinha 12 minutos e Doente Morena, 9 minutos. Era muito aquilo, mesmo o rock'n'roll produzia faixas assim: Genesis etc. Os shows também, nossos shows duravam 3 ou 4 horas e o público era absolutamente ligado naquilo. Ninguém se queixava, ninguém ia embora.
Os shows eram acontecimentos sociais.
Eles eram vivenciais, de encontros longos e prolongados. Hoje eu vejo, num, show de 1 hora e meia as pessoas já fi- ; cam inquietas nas cadeiras e as platéias reclamam. Hoje, quer dizer, tem um empacotamento e uma forma de artefinalização - tanto do show pro disco, quanto do disco pro show - que é toda uma outra maneira de fazer.
Mas o abandono deste disco representa uma distância de três anos dos estúdios, entre "Expresso 2222" e "Refazenda". Era uma coisa incomum naquela época.
Não era uma coisa tão incomum. Se você ver, a periodicidade de dois em dois era quase que dominante e frequente. Raramente a gente fazia um disco todo ano. Não tinha, não havia tempo psicológico, nós não trabalhávamos com essa dimensão psicológica do tempo industrial. Não era ainda assim, não tinha o negócio da linha de montagem onde vocêtem que apertar o parafuso rápido neste carrinho aqui porque o outro já está vindo de lá, te empurrando... (rindo) Vocêtem que apertar, porque a linha de montagem anda. Essa visão industrial, que acabou prevalecendo e está aí hoje, ainda estava em seu momento pré-histórico. Você tinha tempo, compunha devagar e curtia. As gravadoras também não tinham essa pressa toda. Agora não, se você não começa a produzir agora o que você vai lançar em março do ano que vem, você não lança. Ou, pelo menos, não lança com todo o "profissionalismo" que é exigido hoje.
Agora, paradoxalmente, você vê que os grandes artistas internacionais gravam de 4 em 4 anos.
Só pode ser assim, até que escoe. São os vários paradoxos, né? Se, do outro lado, a pressa da linha de montagem e da produção em escala exigem um pouco que você tenha uma renovação - um carro zero a cada ano! -, por outro lado nesses grandes artistas, que já são uma exaustão de um modelo, então aí você entra num ciclo paradoxal. Prince lança disco e se esconde por três ou quatro anos, da mesma forma que Madonna. Stevie Wonder idem, Michael Jackson idem, Paul McCartney e todo mundo. Porque eles já saíram da modelagem, não estão mais nesse processo.
Este pacote histórico tem uma questão comercial, porque os produtos não serão vendidos separadamente.
Mas aí já é uma outra visão do mercado. É uma questão de nicho, é a cesta básica. Quando você pensa numa cesta básica, você leva todos aqueles produtos para casa. Você não pode pensar em feijão sem pensar em arroz. A caixa tem um pouco isso, são produtos que compõem um cardápio que dá um pouco o perfil de uma cozinha. O que é aquela cozinha, o que é aquela culinária? Se não for pra isso, se for pra dar o produto isoladamente, você perde esse foco e essa idéia de período histórico e essa idéia de relação entre a leitura que a música faz e os signos daquela época. Essa coisa do conjunto dos erros e das imperfeições, que possibilitam você interpretar um aleijão e que te dão uma idéia do que é um aleijão perfeitamente configurado. Se você não tem o corpo inteiro, você não vai perceber que aquele corpo é todo torto e todo aleijado. O aleijão é como você quer mostrar. Então eu acho que a caixa é pra isso e é por isso mesmo que ela é uma caixa. É por isso que ela é mais cara, por ser um produto exigente. É por isso que ela se diri,ge a uma espécie de nicho de mercado. E como uma enciclopédia: por que é que você vai comprar um volume ou um fascículo só?
Eu queria voltar um pouco à fase londrina. Você conseguiu assimilar melhor o exílio do que o Caetano. Pelo que você-estava falando, musicalmente também? ,
Não, musicalmente eu acho que foi o contrário. Caetano ali, por exemplo, com o cuidado e o rigor que ele tem sempre, em geral, muito maior do que o meu, na observação das coisas e na interpretação do real e da vida -, ele por exemplo foi estudar melhor a língua e trabalhar melhor as canções. Ele fez canções mais rigorosas, se deteve mais naquilo que era o próprio produto. Quando ele foi fazer - como fez "Transa", por exemplo -, ele fez um produto mais rigoroso. Eu ficava por ali, pelas ruas de Londres e pelos lugares, perdido nas viagens de ácido e tal. Caetano era uma outra história, Caetano nunca tomou nada. Eu era maconheiro e tomava ácido, então era uma outra história.
Você chegou a gravar nessas viagens?
Não, gravações que pudessem refletir registros disso não...
Mas tem umas que parecem! (risos)
Fumo, sem dúvida, porque mesmo depois daquilo tudo eu ainda fumei muita maconha... pra várias coisas.
Antes dos Mutantes você já tinha tido experiência com ácido?
Eu tive a primeira aqui, minha primeira experiência com ácido foi com Lennie Dale. Ele dizia, naquela época: "Esse negócio de drogas, dizerem que faz mal! Eu prefiro morrer 20 anos mais novo do que poderia e ter todos os meus prazeres!" Era um hedonista militante, mas eu acho que era isso.
Essa caixa, especialmente na parte inédita, aponta muito para esta questão de drogas.
Não tá orientada para a questão das drogas. A droga era um ingrediente entre tantos outros naquela cultura. Era um fetiche de época, era isso. Todo mundo, quem era "in" naquela época e estava "por dentro" das coisas ou queria estar, tinha que fazer experiências transformadoras do estado de consciência. Quer dizer, sair do estado comum de consciência para os estados transformários, através do que depois se passou a se chamar de droga - porque eu nunca achei que aquilo fosse uma droga, afinal maconha é erva. Essas coisas eram a cultura da época. "Are You Experienced?" era o nome de um disco de Jimi Hendrix, quer dizer, era um termo da época. "Você é experimentado? Você é experiente? Você já fez suas experiências? Você conhece o seu metier, você conhece o seu mundo, você conhece os valores, você sabe o que é? Você jáfoi à Bahia?" (risos) "Não? Então vá!" Quer dizer, é um pouco disso. Era aquilo. Como é que você ia dizer na sua turma como é que era o seu barato? O pessoal ficava do teu lado, falando do barato etc, mas o que era o barato? Você tinha que viver, era uma questão de vivência. A droga era um dos ingredientes vivenciais daquela cultura, era a ferramenta para você saber do que se tratava. Os livros do Timothy Leary e as várias teorias incluíam até o açúcar entre as drogas. Era "Sugar Blues", com as análises da macrobiótica fazendo todo o contraponto e toda a negação das drogas. Eu, por acaso, fazia as duas coisas: tomava ácido lisérgico e fazia macrobiótica ! (rindo)
Quando é que você começou a achar que aquilo não fazia mais a sua cabeça?
Quando não fazia mais! (rindo) Quando aquilo fazia mais ruído no meu corpo do que silêncio na minha mente! (rindo) Quando a maconha e congêneres começaram a mais ruído no corpo e menos silêncio na mente, aí eu parei e pronto. Eu queria aquilo, tudo aquilo num primeiro período talvez eu gostasse mais... porque estava muito ligado na coisa, na cultura do rock e da ação e da realização de coisas. Talvez a droga no início tenha servido um pouco para estímulo, mais como estimulante de aceleração mental. Mas já num segundo período, logo depois, num período mais hippie, a droga foi mais uma coisa de meditação e tal. A maconha ficou mais uma coisa pra provocar vazio, provocar silêncio e distanciamento, desaceleração e descompromisso com os afazeres. Era uma ferramenta de lazer e foi assim que ela permaneceu depois, no final dos anos 70 e entrando pelomeio dos anos 80. Foi quando começou a pintar taquicardia e ficava complicado. Saca? Algum mal estar. Aí não me interessa mais, eu não quero... Pra quê? Pra mim essa viagem auto-destrutiva nunca foi a minha. Ao contrário, droga pra mim sempre teve que ser sinônimo de bem estar. Quando deixa de ser sinônimo de bem estar, deixa de interessar.
Fale algo sobre A Luta Contra A Lata Ou A Falência do Café.
Ela chegou a ser lançada em compacto, não foi Marcelo? Foi né? Saiu em compacto em São Paulo, era uma música da época da briga séria e eu tomei a briga com a sociedade e com o mundo estudantil. Enfim, era o iqício das divergências e do conflito do Tropicalismo com a coisa toda. E eu me lembro que estava em São Paulo, eu vivia em São Paulo naquela época. Eu resolvi pegar um aspecto residual do perfil civilizatório de São Paulo, que tinha sido a presença aristocrática: o aristocrata paulista, das famílias aristocráticas de São Paulo qonos da terra e da produção do café. Aío café entrou como o saco de alinhagem, que era o símbolo do produto. Era o invólucro, era a caixa, era a lata. O caféensacado era um grande produto de exportação com a marca do Brasil, com o mapa do Brasil e o Brasil escrito sobre o saco do café. Então essa associação, essa assimilação entre o resíduo do aristocrata paulista e o velho saco de café, em oposição à lata de café solúvel - uma nova embalagem, um novo produto industrial, moderno e que portanto tinha uma semelhança com o Tropicalismo e com aquilo que nós representávàmos pra turma do rock. Éramos os novos bárbaros, querendo "invadir sua praia". Então era uma briga pra mostrar isso, com as velhas gerações e os valores do passado contra os valores novos. A lata simbolizava os novos valores e o saco de alinhagem do café simbolizava o mundo antigo.
E quanto à Bruxa de Mentira?
Isso foi feito pela rua, descendo a rua Jardim Botânico com João Donato. Estávamos caminhando à noite e ele ficou cantarolando a música. Fomos inventando a letra ali, na hora...
Sob o efeito de alguma coisa, não?
Não, já nessa época não. Nesse dia por acaso a gente estava vindo da casa de um arquiteto amigo nosso, na rua Marquês de São Vicente ou em alguma daquelas ruas transversais. Íamos lá pra casa do João Donato, no Humaitá. É faixa de um disco dele que nós produzimos, com várias canções em parceria daquela fornada. Que Besteira também é desta mesma noite, nós fizemos três músicas nesta noite.
Existe a possibilidade de você vir a regravar alguma coisa deste material?
Eu acho que sim, é possível que sim. Ainda não me debrucei sobre este material com esta intenção, né? Eu fiz uma pequena triagem de material quando eu fiz o "Quanta", não é isso Marcelo? Foi sobre o meu material de quando você estava levantando a Warner, porque você estava trabalhando nas duas gravadoras. A música Sala de Som é material daqui, é sobra do disco "Refavela" e está na caixa junto com É e Músico Simples. A Pílula de Alho é um refugo das gravações de "Um Banda Um".
Ouvindo agora a versão original de Sala de Som, vê-se que a música era muito mais complexa.
Em "Quanta" eu a reduzi, eu a bossa-novizei rigorosamente. Eu fiz uma versão bossa-novística mesmo pra fazer. As acentuações rítmicas e as intervenções vocais da versão original estão ligadas mesmo ao aventureirismo experimentalista daquela época.
Até que ponto essa caixa vai te dar fôlego para não lançar disco no,'vo? Você queria fazer o disco de Bob Marley.
Não, não é esse o papel da caixa. O papel da caixa não é mercadológico neste sentido. Dentro do ponto de vista do artista, não é aquela coisa de "a caixa substituir uma série de outros produtos que eu tivesse a obrigação de fazer". Não é, a caixa é nicho mesmo, é pra isso aí. É recuperação documental, é pergaminho, entendeu? É Museu do Tombo, sabe? São os "papéis do descobrimento", essas coisas, tem esse lado. É essa a função, não substitui o que você tem que fazer agora ou o seu compromisso com o futuro. Não dá pra substituir, essas caixas são o passado.
Nessa garimpagem do Marcelo Fróes, eu suponho que do material ao vivo ele tenha deixado de fora versões de músicas que repetissem. Mas sobrou algum material inédito do material que ele pesquisou?
Olhaí, com a palavra o Marcelo. Diga aí, Marcelo.
Uma única música, cujo autor nós não conseguimos identificar. ÉRato Miúdo, que nós chegamos até a mixar mas que, até o último minuto, não havíamos conseguido definir quem fosse o autor.
Eu sempre supus que fosse do Jorge Mautner, depois supus que fosse do Carlos Pinto - lá de Juazeiro -, mas também não é. E eu não sei de quem é. O departamento jurídico aqui da companhia não quis correr o risco, né? Nós teríamos até corrido o risco, mas pra eles poderia criar algum problema qualquer.
De que época que é e de que disco sobrou?
Foi gravada com a banda do Caetano, sobrou das sessões do compacto Sítio do Pica-Pau Amarelo em dezembro de 1976. Temos Amaldo Brandão no baixo, Vinícius Cantuária na bateria e Gil no violão Ovation. É a Outra Banda da Terra, com a qual eu gravei aquele compacto que também tem Mauro Senise especialmente na flautin.
Como eram as condições de estúdio na época?
Era aqui, já em 16 canais quando eu saí. Os primeiros discos foram gravados em 4 canais no estúdio da Avenida Rio Branco. "Louvação" foi assim, com arranjos do maestro Carlos Monteiro de Souza, Dori Caymmi, Francis Hime e Bruno Ferreira, filho de Abel Ferreira. Todo aquele pessoal trabalhava assim comigo, gravando dois canais e injetando aquilo como playback enquanto botava mais dois por cima. E assim sucessivamente, até no que desse! (rindo) E o engraçado é que saía tudo bem. Hoje em dia é impossível você obter sonoridade de violão, de voz e outras fazendo isso. Aquelas gravações podem ter um certo abafamento, mas por outro lado tem uma certa fidelidade à qualidade acústica que hoje em dia você não obtém mais. É engraçado, ganhamos muitas coisas e perdemos muitas também. Mas é sempre assim, é sempre assim.