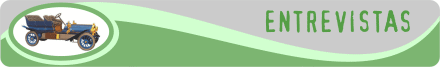 Vinícius Cantuária
Vinícius Cantuária
No dia 9 de abril de 1999, o cantor e compositor Vinícius Cantuária, divulgando seu recém-lançado CD "Tucumã" no Brasil, recebeu Marcelo Fróes e Marcos Petrillo em sua casa no bairro do Jardim Botânico. Naturalmente o papo teve que abranger muito as origens do Terço, banda de cujo primeiro LP Cantuária - hoje morando em Nova Iorque, com sólida carreira internacional - foi o baterista e vocalista principal.
Você gravou "Tucumã", este seu novo álbum - o primeiro pela Verve (Universal) - em seu estúdio caseiro em Nova Iorque. Agora você já está semeando um próximo projeto, né?

Eu tive uma idéia de gravar uma série de percussões com o Arto Lindsay, depois levamos tudo pro meu estúdio - onde trabalho com Pro Tools. A gente teve a idéia de chamar o Maxwell, o Sean Lennon e o Brian Eno, para que cada um bote uma música em cima daqueles ritmos. A gente já fez a primeira etapa, eu já trabalhei na parte de edição e agora a gente já está começando a distribuir estes tracks - para as pessoas trabalharem em cima.
Há quanto tempo você está em Nova Iorque?
Estou lá há cinco anos. A minha carreira como artista é muito irregular aqui. Eu tinha feito uma participação no disco e no show do Chico Buarque, chamado "Francisco", e foi super legal. A gente viajou o Brasil inteiro, viajamos várias partes da Europa. Quando eu voltei, eu fiz um disco pela Chorus/Som Livre chamado "Rio Negro", que é um disco mais ou menos. Eu o acho legal mas não rolou nada, porque não tava rolando nada. Ia ficar naquela coisa, eu estava a fim de experimentar; de fazer coisas diferentes, coisas que eu sempre fazia mas que eram difíceis. Por exemplo, tocar bateria; não dá mais pra tocar bateria com ninguém, entendeu? Não dá mais pra fazer participação como músico, mas ao mesmo tempo eu tinha uma carreia muito irregular. Eu ia tocar com quem? Eu toquei anos com o Caetano, e toquei com várias pessoas: Luiz Melodia, Jorge Mautner, Gal Costa... mas chega uma hora que você não tem mais com quem. Eu já tinha tocado com O Terço antes e já tinha a minha carreira. Eu falei: "Quer saber de uma coisa? Eu vou pros Estados Unidos, entendeu?" Eu queria exercer a minha profissão de músico tocar os meus violões, as minhas baterias e as minhas percussões. Eu queria compor sem nenhum compromisso, sem fazer nada...
Mas você já tinha feito bastante sucesso por aqui.
Sim, mas muito antes. Meus dois primeiros discos solo foram pela BMG e são muito bons: "Vinícius Cantuária" e "Gávea de Manhã", discos lindos mesmo. Em 1985 eu fui pra EMI, mas já numa fase mais pop. Botei uma música no rádio, o que foi bom por um lado mas ruim pelo outro - porque as pessoas pegam aquilo e acham que você é aquilo. Só Você fez muito sucesso e foi regravada recentemente, enquanto Lua e Estrela fez muito sucesso com o Caetano. Eu sinto que tive dificuldade de desenvolver minha carreira no Brasil por milhões de motivos. Primeiro, quando eu gravei dois discos na BMG, eram discos bem de MPB - Jacquinho produziu o primeiro, eu o segundo. Quer dizer, era uma coisa que era difícil de tocar na época... porque o rock já vinha vindo. Quando eu fiz uma coisa mais pop, o rock já estava passando. Quer dizer, minha carreira de disco nunca aconteceu.
E quanto ao Tigres de Bengala?
Eu acho que era uma visão meio de juntar todo mundo. Foi pouco antes de eu ir embora. A idéia básica era juntar eu, Cláudio Zoli e Ritchie, né? Eu acho que o Ritchie tem um pop muito legal, sabe? Ele tem um pop super legal, não sei porque é que não rola. Eu sei, o mecanismo também não rolou pra ele.
Mas ele também desistiu nesses últimos anos.
Sim, ele desistiu... mas isso desestimula! Hoje meu manager americano ligou pra dizer que saiu meia página do "New York Times", falando sobre o meu disco. Os caras botam o meu trabalho! Eu cheguei antes, mas minha mulher veio de Nova Iorque depois e trouxe uma revista chamada "Spin". Olha só, a edição desta semana faz uma crítica do disco do Caetano e outra do meu - juntos. Eu levei oito e o Caetano, sete. Quer dizer, eu não estou querendo comparar, mas eu acho que você não tem muitas opções no Brasil e acaba se repetindo e se redundando. Eu assinei um contrato de sete anos com a Verve, estou aqui no Brasil pela Verve americana. Aqui não tem mercado para este tipo de trabalho. Eu entrei para a Verve porque eu tenho um duo com Naná VasconcelIos. A gente toca e eu acabei de produzir o disco dele agora. Ele produziu um disco meu que só saiu no Japão, depois do "Sol Na Cara". Eles queriam fazer um disco mas não tinham o mesmo budget do anterior, porque havia pintado uma recessão brabíssima no Japão. Eles não tinham contrato, foi tudo feito na base da confiança.
Quando eu acabei esse disco, eu fui fazer um show em Nova Iorque e, quando acabou o show, o Chuck MitchelI - que era o presidente da Verve - foi lá e falou: "Olha, eu estou te seguindo e é o terceiro show teu que eu vejo! Adorei e quero você na Verve! Você está a fim?" Eu falei "tô", isso numa quarta-feira. Na sexta-feira eu já estava sentando com ele. O negócio é o seguinte: ou os caras gostam da tua música ou não gostam. Você entrega o trabalho, não tem aquela coisa. Eu cresci como artista de disco preocupado com faixa de trabalho. Porra, eu comparo isso a uma pizza. Você pede uma pizza cortada em 10 pedaços. Um pedaço tem que ser melhor que os outros? Não é assim, é tudo igual. Ou o trabalho é bom ou não é.
Mas, por uma série de coisas que eu não sei explicar, porque também não acontece só comigo, eu acho que até em termos' de Brasil eu consegui até imprimir algumas coisas. Mas é difícil você fazer uma carreira no Brasil, com uma certa regularidade e com você fazendo só o que você quer. Eu posso falar, eu só fiz o que eu quis. As bobagens que eu fiz, eu fiz porque eu quis, mas ninguém me pressionou a nada. Mas é muito difícil. (...) Eu não sei quais as razões, mas até desconfio algumas coisas. Eu tive um momento na EM!, eu tive um problema sério quando o Lulu Santos saiu da Warner. Eu entrei na EM! em 1985 e não ganhei nada pra isso, mas fiz um disco que fez o maior sucesso. Eu fui fazer o segundo disco, mas esse segundo disco já foi meio cheio de expectativas. Foi legal, mas já não foi a mesma coisa. Eu cheguei pro Jorge Davidson, que era o diretor artístico da EM! na época, e disse: "Pô, eu tô querendo comprar minha casa!" Ele falou: "Tá legal, a gente te dá a grana e você assina por mais um ano!" Eu tinha um contrato de três disco, havia feito um e só faltavam dois. Assinei por mais um ano e com isso voltei a ter três pela frente.
Eu fiz o segundo disco, que acabou sendo o primeiro do novo contrato de três discos. Neste meio tempo, o Lulu havia saído da Warner. André Midani me ligou e disse: "Olha, a gente quer você aqui na companhia!" O que é que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ficado na minha, assinado com a Warner e ter deixado eles se entendendo lá como todo mundo faz... ou como todo mundo mais ou menos faz. Eu ainda devia dois discos pela EM! e, quando eu estava gravando o meu terceiro disco, o André me ligou e marcou um almoço. Eu fui com minha mulher, só que eu inocentemente liguei pro Beto Boaventura - que era o presidente da EMI - e contei a história. Ele falou: "Eu também vou neste almoço, porque você não vai pra lugar nenhum e porque você é prioridade da companhia!" Nós quatro almoçamos juntos e ficou tudo certo. André entendeu, porque eu falei que o Beto era meu amigo e .a gente precisava conversar abertamente. Foi tudo numa boa, o problema não foi ali. O problema foi que o Beto me prometeu que a companhia ia se empenhar naquele disco que eu estava gravando. Mas não aconteceu nada disso, então eu peitei. Um dia eu subi na EMI e falei mesmo. Lá de cima da sala você vê o cemitério São João Batista, então eu disse: "A diferença da EMI pro São João Batista é que, na rua Real Grandeza, pra ir pra EMI você vira pra esquerda e pra ir pro São João Batista você vira pra direita! Vocês estão matando o meu trabalho!"
Já estava enterrado, né? O quarto disco eu não cumpri... e aí você sabe, não só no Brasil como em qualquer lugar - o George Michael brigou com a Sony -, a coisa acabou. E aí o André Midani, que queria, já não apareceu. Ou seja, ninguém quer ninguém livre. Esse mercado é assim mesmo, as pessoas ficam correndo atrás da competição. Mas, ao mesmo tempo, meu trabalho foi muito errado. Tipo assim: me mandaram pro Sul, na divulgação do terceiro disco, e, quando eu cheguei a Porto Alegre, o divulgador que ia me esperar não estava lá. Eu pensei: "Bom, de repente o cara teve algum problema. O cara é casado, tem mulher e filhos etc" Como eu era adulto e sabia onde era o hotel, peguei um táxi e fui pra lá. Subi e a primeira coisa que fiz foi ligar pra EMI local. O Alemão atendeu, eu me identifique ie ele me perguntou: "Pô bicho, onde é que você está?". Quando ele falou aquilo, ficou claro que eu havia sido enviado pra divulgação em Porto Alegre mas o cara não tinha sido avisado. Não tinha nada pra fazer lá, eu fiquei puto - com toda razão - e liguei pro Rio: "O negócio é o seguinte: estou indo embora!" O cara da divulgação tentou remediar, me pedindo pra ir pra Florianópolis porque estava "tudo certo".
Eu cheguei em Florianópolis e aproveitei todos os jornais e desci a ripa na minha gravadora. Quer dizer, eu também não podia ter feito isso. Aqui no Brasil você está numa gravadora mas sempre tem dúvidas se os caras querem mesmo lançar teu disco e trabalhá-lo. Eu estou atravessando este problema agora, porque estou fazendo um disco que não tem música de trabalho e a música oficial do Brasil é horrível. Eu acho que a música pop no mundo inteiro está ruim mesmo, mas eu acho que no Brasil é pior. Aqui só tem uma mesma coisa, e não sou eu que digo: é todo mundo que diz isso, eu estou apenas confirmando. Estou na mídia de uma forma absurda fora do Brasil e chego aqui e o espaço é pequeno. Eles não sabem o que fazer com o meu trabalho. O trabalho só rola com rádio e novela, mas como estou fora e não vou poder fazer os playbacks, acabou ficando de fora. Mas tudo bem, eu só fico puto é de pegar revistas como a "Wired" e a "Time Out" e ver o espaço que dão. Numa delas, saiu a lista das 99 pessoas que seriam faladas em 1999. O único brasileiro sou eu, então tem uma mídia rolando a meu favor. Eu não quero saber se os caras estão certos ou errados, mas o fato é que existe uma coisa lá e aqui a coisa está sufocada.
Aqui hoje só dá pagode e axé.
Eu acho que nessa coisa do pagode e do axé eu até prefiro o pagode, porque eu acho que é mais raiz. Tem o lado bacana, de ver os garotos que vêm da periferia comprando BMW e casa pros seus pais. Eu acho isso até legal, pode até rolar coisas interessantes no futuro. Mas o que me deixa chocado é que só rola isso e aí os caras não sabem o que fazer com o meu disco! Ao mesmo tempo, eles tem um Terrasamba vendendo 2 ou 3 milhões de discos e portanto não se preocupam comigo. Não sabem colocar o meu produto em algum lugar, não sabem fazer a coisa. Então eu falo. Fiz três shows na Alemanha, fiz show em Paris, fiz show em Amsterdam, fiz show em Milão e fiz show em Londres, para lançareste disco pela Verve. Eu montei uma banda maravilhosa, com Paulinho Braga na bateria e uma menina que toca cello e um trompetista americano. Em junho e julho estarei em Montreux, mas não na noite brasileira. É claro, vou estar na noite que tem John McLaughlin, Chuck Corea, uma noite que pra mim é muito melhor. Vou estar nos principais festivais, em agosto vou estar no Blue Note do Japão. Farei quatro cidades: três dias em Tóquio, dois em Osaka e dois em Fukuoka. E quanto ao Brasil? Não rola. Eu trabalho direto e estou entrando no circuito.
Você resolveu ir embora por causa do insucesso do projeto Tigres de Bengala?
Sim, eu acho que a gente perdeu o rumo. Quando a coisa estava no acústico - eu, Zoli e Ritchie - era lindo, mas de repente a gente se perdeu e a companhia também entrou numa outra fase. A gente entrou em estúdio e eu não sei o que aconteceu. Mas não dava, na realidade soou como um projeto de pessoas que estava fracassadas. Essa é que é a realidade, aqui no Brasil é difícil você segurar. Toda hora lá fora eu vejo músicos se reunindo e tocando, mas aqui soou como uma coisa fracassada. A idéia final rolou mal e aí eu pensei que não ia rolar mesmo. Essa mesmice estava rolando o tempo inteiro aqui.
Mas a gravadora investiu neste projeto, não?
Eles investiram... mas aconteceu alguma coisa. Antes do disco sair, a gravadora tinha um cara chamado Marcos Kilzer. Antes do disco sair, alguma coisa mudou e a gente sentiu uma mudança cinco minutos antes de entrar em campo. Ele saiu e mudou alguma coisa na companhia. Eu achei que poderia ter havido algum atrito meu com a companhia, sei lá. Ritchie talvez estivesse meio queimado, ou mesmo pode ter havido algum revanchismo. Alguma coisa aconteceu e o projeto esfriou da noite pro dia. Quando ele chegou na rua, já estava sem força. Mas isso foi a gota d'água. Eu tinha meu ECAD, meus direitos autorais e minhas músicas rolando aqui, então resolvi ir tentar alguma coisa lá fora enquanto ainda tinha alguma energia.
Como foram estes cinco primeiros anos na América?
Cara, foi difícil pra caramba. Eu fui totalmente às cegas. (...) Eu fui na batida de ir mesmo, sem nada. Eu já conhecia o Arto Lindsay, mas não estava a fim de procurá-lo. Porque senão eu iria entrar no seu espaço. Nos primeiros meses a grana já estava acabando, e nada estava pintando. Eu fui com minha mulher, olha só que loucura. Cheguei lá com uma idéia totalmente maluca. Eu fui com uma grana, fiquei em hotel e achei que iria alugar apartamento em dez dias. As crianças iriam um mês depois. A gente só conseguiu alugar apartamento dois dias antes das crianças chegarem, porque a gente não tinha social security e nem conta em banco. A gente conseguiu, mas hoje você não consegue tirar mais social security sem visto de trabalho. Sem isso, você também não abre conta em banco. Agora eu pego meu Green Card pra viver nos Estados Unidos. Nos primeiros dias eu estive com visto de turista, mas logo arranjei um visto de trabalho. Fiquei sempre legal, nunca tive esse problema de ter que sair e voltar. No começo, eu tive que sair pra tocar. Em meu primeiro trabalho, ganhei 70 dólares pra tocar. Nunca quis tocar em lugar pra brasileiro, porque se eu quisesse tocar pra brasileiro eu teria ficado no Brasil. Eu tocava violão e dei muita sorte, porque fazia um duo com um argentino que toca com Al DiMeola. O cara é muito bom e a gente fez um duo de violões, muito embora eu às vezes pulasse pra percussão, e a coisa era meio inexplicável - meio bossa nova, meio tanga, meio pop, meio jazz.
A coisa começou a agradar, a gente cantava em português. Muita gente importante começou a ir ver esse negócio e o dono do lugar melhorou o pagamento. Eu não procurei o Arto, porque não havia motivo, mas um ano depois eu comecei a gravar uma demo com minhas coisas em casa. Eu moro no Brooklyn, que é a Gávea de lá, e aí já tinha um motivo pra procurá-lo. Eu fui na casa dele e, chegando lá, mal comecei a mostrar-lhe meu trabalho. Ele me disse que Sakamoto tinha um selo numa grande gravadora japonesa e que ele estava fazendo um disco pra lá. Só que Arto havia parado de gravar por falta de material, estava na quinta música. Me chamou pra trabalhar com ele e nós fizemos aquele disco praticamente juntos. Eu compus várias músicas com ele e acabei co-produzindo o disco. Nessa aí, eu escrevi um arranjo de Esse Seu Olhar e o Arto chamou o Sakamoto pra tocar piano. O cara me conheceu, adorou e uma semana depois me chamou pra tocar no disco dele. Um mês dele, ele me ligou chamando pra fazer um disco meu pro selo dele - da mesma forma como o Arto estava fazendo. Eu topei e gravei "O Sol na Cara" nos Estados Unidos. A coisa começou a pintar, eu já estava tocando com Arto e conheci Brian Eno, que já me chamou pra outras coisas. Depois que a coisa começa, não pára. Você vai indo, os caras gostam.
É um caminho sem volta?
É, não tem volta porque você começa a se avolumar. Agora, está começando a pintar coisas pro cinema. Depois que eu gravei aquele meu primeiro disco lá, eu fui apresentado ao Pro Tools. Fiz "Next Stop Wonderland" com Bebel Gilberto. Na realidade, em meu primeiro disco os caras me deram 60 mil dólares para que eu entregasse um disco pronto. Eu gravei no estúdio de um amigo meu, que acabou co-produzindo "Tucumã" junto comigo: Soli, um baiano que mora lá há 20 anos. Ele entende tudo de Pro Tools e eu comecei a ver que eu podia ter meu próprio estúdio. Com aquela grana, eu comecei a comprar as coisas e já no segundo disco eu fui indo. Hoje em dia, eu tenho um estúdio maravilhoso em casa. Produzi o último disco do Nana Vasconcellos lá. "Tucumã" foi praticamente todo gravado em casa, hoje eu comparo meu trabalho ao de um artesão. Meu estúdio é meu atelier. Às vezes, eu fico três dias procurando um timbre de guitarra. Mas, depois que eu o descubro, é uma maravilha. Num estúdio grande, eu não posso fazer isso. Eu só vou pro estúdio maior pra fazer os playbacks, mas eu - e todo mundo acabo trabalhando mais em casa. Quando eu gravei o disco japonês, já estava no processo de fazer um disco parecido com o "Tucumã". Eu tinha muita coisa, mas segurei para o "Tucumã". Montei meu estúdio na casa do Naná, pra produzir o disco dele, e aí ficava o dia inteiro tocando. Pro Tools não é fita, você tem milhões de informações. Eu tava no processo de amadurecimento de "Tucumã". Agora estou com dois projetos: estou querendo fazer um chamado "Os Rios", que são 12 peças só de sopros e cordas. Eu estou querendo fazer isso na Europa, para os 500 anos do Brasil. Estou botando o nome de cada um dos principais rios - Rio Amazonas, Rio Tietê... Cada peça tem três minutos e "Rio Tietê" é uma coisa totalmente neurótica! (rindo) A Verve quer fazer, mas quer que seja fora do meu contrato. Eles querem que seja um disco especial, então estou pensando em fazer este projeto. E estou pensando também em fazer um projeto que estou a fim de gravar dentro de um desses hotéis no meio da Amazônia. Eu levo o meu equipamento pra lá, boto um quarteto de cordas e meu violão. Depois eu venho pra Nova Iorque e dou um tratamento. Estou com esses dois projetos e meu próximo certamente será assim.
Já falamos sobre o futuro, agora vamos falar um pouco sobre o passado. Como foi seu início com O Terço?
Eu estudava no Santo Antônio Maria Zacarias, que é um colégio de padres no Catete. Na minha sala estudava um garoto chamado Mário Amiden, que tem um irmão que se chamava Jorge Amiden. Ele vivia dizendo que o irmão tocava violão e que eu precisava conhecê10. Eu tinha 16 anos, lembro que um dia fui na casa dele, que era perto da escola. Eu morava no Flamengo, eles mais pro lado do Catete. Ele me mostrou seu violão e tocou. Eu não tocava nada, mas gostava de música e a gente começou a cantar. Isso tipo 67, era Beatles total. Ele já tinha um conjunto de baile e fazia cover. A gente ia ver Renato e seus Blue Caps tocando, a gente gostava de Byrds. Ele me chamou pra ser crooner da banda dele, Joint Stock Company. Desta banda saiu Geraldo, Magrão, eu, Jorge, Sérgio e Renato Terra. A gente não gravou nada mas era legal, porque a gente era muito ligado nos Byrds e então vocalizava. O Terço na realidade começou a pintar ali, porque a banda era muito grande e aí a gente começou a pensar numa coisa com menos gente. Eu não tocava, o Sérgio tocava baixo e o Jorge tocava guitarra. Aí eles falavam assim: "Você vai tocar bateria". Eu não sabia, mas eles mandaram e a gente começou a ensaiar. De repente, eu tava tocando bateria e cantando. E aí teve um festival de colégio em que o Paulinho Tapajós foi jurado. A gente entrou, eu acho que foi no Santo Inácio. Nós três entramos, sem nome, mas acabamos usando o nome de Os Libertos. Aí, na realidade, pra falar a verdade, eu nem toquei esse dia... porque a família do Jorge era do Mato Grosso e a gente foi fazer um show lá em Campo Grande. O cara não pagou e a gente acabou ficando, mas aí os caras de outro clube gostaram e sabe como é. A gente tocou no sábado seguinte, depois virou mais uma semana e, quando a gente viu, já estava lá há séculos. Nisso, o Sérgio já tinha voltado pro Rio, porque tinha inscrito uma música neste festival. Ele tocou com dois caras, usando o nome de Os Libertos, e o Paulinho Tapajós gostou. Sérgio falou: "Minha banda não é essa, minha banda é muito melhor... mas está lá". O Paulinho falou "manda vir" e aí eu e Jorge, que já estávamos tocando com uma banda muito maior no Mato Grosso, acabamos com tudo e integramos. O Terço já surgiu dali, fomos contratados pela Forma e gravamos Tributo Ao Sorriso no festival de 1971. Aquilo foi o começo e aí o Marcos Valle foi importante pra caramba, porque ele chamou a gente pra tocar com ele. Olha que loucura, uma banda de garotos pra acompanhar o Marcos Valle! Eu não sei como, mas pintou esse show chamado "Quatro Cantos" - que era ele de piano, com O Terço; Paulo, Cláudio e Maurício; e Fredera de guitarra. Na bateria era eu e Robertinho Silva. Era enorme, o palco era super grande. Aí o Marcos falou: "Pô, vamos fazer uns shows". Nós começamos a' viajar pelo Brasil com ele, chegamos a gravar num disco dele. Sá & Guarabyra também gravaram com O Terço, mas já na formação com Magrão - quando o grupo já estava se desmembrando.
Marcos Valle chegou pra gente e disse. que estava pintando muito show pra gente fazer, inclusive um festival do MIDEM em Cannes, na França. A gente topou e foi pra França, já com César das Mercês no lugar do Jorge Amiden. Ele saiu meio brigado, porque só queria fazer as coisas dele e não queria ouvir a gente. Ele fez o Karma depois, mas não entendeu que numa banda o processo é coletivo. Foi muito ruim pra todo mundo, inclusive pra ele... porque hoje ele está mal pra caramba de saúde. Mora num sítio em Vassouras, está pesando 150kg. Engordou, acho que começou a usar drogas e não segurou a onda. Enfim, tocamos lá, foi o maior barato e, quando a gente estava indo pra Paris, pra depois ir pra Londres e Madrid, no vôo a gente viu no jornal que o Pink Floyd ia tocar no Palácio dos Esportes de Paris. Seria um show antológico, porque teria coreografia com o ballet de Versalhes. Compramos convites a 150 dólares na mão de cambista, entramos e vimos aquele negócio. Aquilo mudou a cabeça de todo mundo, nego queria ser o Pink Floyd no Brasil. Eu falei: "Bicho, isso não vai dar certo! Olha a aparelhagem dos caras, a gente usa radinho de pilha!" César das Mercês não estava com a gente, porque estava recém-casado e voltara logo após o MIDEM.
De onde vinha o César?
De conjunto de baile, também. Tinha um lance muito forte ali no Flamengo e no Catete, umas bandas que rolavam por ali. Era uma coisa diferente da zona sul. A gente não era da zona da sul, a gente era do Flamengo. A gente não era Bubbles, nem Analfabitles, que dominavam a zona sul. A gente era do Company, que começou a abalar porque tocava aqui na zona sul também. Numa época, as bandas mais quentes eram o Company, o Analfabitles e o Bubbles. The Bubbles virou A Bolha, o Company virou O Terço e o Analfabitles acho que não virou nada. Bem, voltando lá, eu gostei da coisa do Pink Floyd mas sabia que isso não poderia dar certo. Aí teve algo e eu saí... Foi aí que eles foram pra São Paulo, Flávio Venturini entrou e a banda deu até uma crescida nessa coisa do progressivo.
Sim, O Terço se caracterizou muito mais como uma banda progressiva.
Mas a banda não era progressiva. Na realidade, a gente gravou um disco pela Continental e que já era um pouco essa idéia progressiva mas era muito mais brasileira, ainda. Este disco, "Terço", tem Cores e Lagoa das Lontras. Na realidade, eu brigava e queria fazer um som mais semi-acústico, mas de repente a coisa ficou heavy pra caralho. Mas eu preferia que ficasse mais pesado do que progressivo. Teve uma hora em que eu pulei fora, afinal eu quase havia ido tocar com Os Mutantes. Depois da. Rita, o Liminha chegou a falar na idéia de eu ir pra lá. Eu fiquei com a idéia, mas acabou não rolando. Rui Motta entrou e aí foi um momento dificílimo, porque eu saí da banda e fiquei sozinho no Rio. Estamos falando dos anos 70, quando todo mundo usava cabelão e fumava. Era uma repressão total, barra pesada de Médici e eu não sabia o que fazer. Mas eu já era amigo do Arnaldo Brandão, que já havia saído da Bolha e ido pra Londres. Ele já estava tocando com Raul Seixas, então um dia me chamou pra levar um som em sua casa. Aí começou a rolar muito som - eu, ele e Perinho Santana. Eu me lembro que foi uma época em que toquei muito com um cara genial, mas que morreu mal pacas, chamado Sérgio Bandeira. Ele morava com Arnaldo, uma época morou junto com Mick Taylor. Talvez tenha sido o primeiro black brasileiro a tocar guitarra de verdade. Ele fez uma música e que Ângelà Rô Rô gravou, mas ele mesmo nunca conseguiu gravar nada. Esse era muito louco mesmo, esse não tinha condição. A gente fez muita jam, muitas vezes com Lincoln - também baixista da Bolha. Era uma fase em que você tocava por tocar. Era por prazer, não tinha grana nenhuma. Eu morava na casa de um amigo num dia, na casa de outro no outro dia. Minha família foi morar em Brasília e eu optei por ficar no Rio, então foi muito difícil. Mas um dia o Arnaldo me ligou e falou: "Pô, Luiz Melodia está a fim de fazer uma banda e eu te indiquei! Você está a fim de tocar?" Eu topei, nós fomos lá... já depois do "Pérola Negra". Ali rolou um pouco da Outra Banda, que depois tocaria com Caetano. Porque era eu de bateria, Arnaldo de baixo, Perinho de guitarra e Tomaz de piano, além do falecido Oberdan no sax. Mas também não tinha grana, porque Melodia já era o que é hoje. Sempre foi isso, não tinha trabalho. Mesmo na época de sucesso, era isso. Aí a gente de vez quando tocava com Jorge Mautner, e foi nessa de tocar com Mautner que o Gil pintou. Ele pintou num show do Mautner e depois do show foi falar comigo: "Pô, cara! Adorei teu som! Pinta lá em casa!" Eu não tinha muita ligação, sabia que tinha Gilberto Gil mas historicamente não era da minha geração. Esses dez anos que separam a gente na época fazia uma diferença, mas isso talvez tenha me aproximado muito dele. Porque eu comecei a freqüentar muito a casa dele exatamente na época da prisão dos Doces Bárbaros. Ele foi preso e aquele ano eu toquei muito violão e percussão com ele. Foi muito legal pra minha música, a gente fez muitas coisas ali.
Antes de gravar com Caetano, a Outra Banda gravou o compacto Sítio do Picapau Amarelo com Gil - no final de 1976.

Foi exatamente aquilo ali, olha só que loucura! Eu nunca toquei bateria com o Gil, na realidade. A gente tocou muito violão, a gente fez muita coisa junto... mas no Sítio sou eu. Mas o lance é o seguinte: a Gal estava querendo começar a fazer um show chamado "Caras & Bocas" e me chamou, porque o Gil disse que ela tinha que me chamar. Eu fazia esse show com ela e a crítica botava o show lá em baixo. Caetano ia todo dia e fazia aquela resistência, pra contrabalançar: "Esse show é lindo!" Aí o Caetano começou a me chamar pra ir pra casa dele, entendeu? Ele estava gravando "Bicho" com a Banda Black Rio, ele me mostrou Tigreza sem letra. Eu fiz aquela pontezinha, então ele me chamou pra gravar essa e Odara. A linha de baixo de Odara, eu cantei pro Arnaldo. A gravação não saía e eu mandei ele experimentar essa linha. Rolou... e essas duas músicas cresceram no disco. Caetano nos chamou pra fazer uma banda e aí começou a Outra Banda da Terra. Éramos somente eu, Caetano e Arnaldo. Eu me lembro que a gente tocou no Instituto de Educação, na Tijuca, numa temporada de três dias. Na quinta-feira tinha 300 pessoas, na sexta 400 e no sábado, 500. Tava vazio, metade da lotação. Eu me lembro disso porque a Glória Pires, pequenina na época, foi lá levada pelo pai. Eu tocava no interior de São Paulo com o Caetano, a gente ia de ônibus e tocava em teatros pequenos. Não era essa coisa, não tinha roadie. Tinha que montar e desmontar, as coisas mudaram muito nesses últimos 20 anos. Naquela ocasião não havia nem produtor, porque se fosse hoje teria chamado essas produções pra mim. Por que o que é o produtor? Fui eu quem botou Sérgio Dias tocando cítara. Caetano sabe disso, todo mundo sabe disso, mas eu não assinei produção nenhuma daquilo ali... quando, na realidade, eu era o produtor daquilo e tinha que ter. Ninguém assinava, não era uma coisa proposital, o Caetano nem sabia.
A Outra Banda durou bastante tempo.
Durou... mas acabou. Você sabe como é que acabou? A minha música já estava tocando em rádio e tudo mais, então nós chegamos pro Caetano e anunciamos que estávamos saindo. Eu estava botando Marcelo Costa no meu lugar, porque eu na verdade sempre o vinha levando pras sessões de gravação comigo. Arnaldo indicou Tavinho e acabou a banda.
Por que?
Porque eu já tinha o meu trabalho e o Arnaldo já estava vindo como Brylho. Eu já tinha lançado meu primeiro álbum pela RCA, Arnaldo vinha com Noite do Prazer. Não dava mais pra conciliar.
Você se sentia à vontade dentro do Rock Brasil?
Não, tanto é que eu não fiquei ali. Quem se sentia vontade e tinha talento, ficou... e este cara é o Lulu. Porque ele sabe pegar uma guitarra e vinha do Vímana. Lobão também, Ritchie também, eles tinham mais talento pra fazer isso... enquanto eu tinha mais talento pra fazer o que faço agora. Como eu não estava ali direto, fazia a coisa sempre com uma ponta de preocupação... e isso passa. Se você não está fazendo o que você quer fazer, não interessa o sucesso. É uma coisa que não conecta. Todo mundo poderia fazer o que Roberto Carlos faz, mas só ele sente aquilo e faz direito. E dá certo porque ele faz aquilo com aquela verdade, entendeu? Eu acho que não consegui, eu acho que até fui prejudicado porque na época em que fazia pop eu não tinha influência nenhuma. E a garotada buscava influência. Eu acho que o sucesso dos Paralamas foi todo calçado em cima do Police. Não estou falando do sucesso de hoje, mas na chegada dos Paralamas houve uma identificação com uma galera jovem. Eu fazia um pop já maduro, sempre foi um pop muito mais maduro. Tinha muito mais harmonia, tinha muito mais levada e não tinha muita preocupação com a letra. Não podia falar de "Geração Coca-Cola", falava de coisas mais genéricas... que eu acho até que não eram brilhantes a ponto de ficar como poesia. Eu não tinha preocupação com a letra, não tinha sacação da letra. Eu pensava mais como músico e como arranjador, fazendo um pop que rendia shows super legais mas que não tinha a força de rádio. Não tinha a força que a garotada queria ouvir, tanto é que não rolou. Rolou um pouquinho, o que de certa forma foi bom pra mim... porque me preservou muito. Certas pessoas não podem mais tocar em rádio, porque foram muito expostas... e comigo graças a Deus não chegou a acontecer isso. Por um lado, eu acho que até foi bom conseguir ter uma liberdade de sair e voltar... e de poder estar fazendo o meu trabalho. Eu acho até que tinha uma expectativa muito maior para com meu trabalho do que com aquilo que eu apresentei, como compositor e como instrumentista. Meus dois primeiros discos pela RCA são muito mais conectados com "Sol Na Cara" e "Tucumã" do que com o miolo da EMI, que ficou meio perdido. "Rio Negro" é uma tentativa meio pálida de pegar esse fio da meada, porque eu não consegui achar o elo-perdido. Eu vejo isso claramente. Inclusive a BMG vê a possibilidade de eu relançar estes dois discos num só CD, mas eu teria que vir aqui pra remixar. Não valeria a pena relançar os dois, mas tem eu e Caetano cantando e um arranjo de Jacquinho, além de uma gravação com a primeira formação do Céu da Boca. Tem muita coisa ali que você pode pegar e transformar num bom disco, principalmente se fizer uma remixagem.
Você deseja fazer um trabalho específico para o Brasil?
Eu estou aqui por causa da gravadora, estou aqui como se estivesse na Venezuela. Estou trabalhando, só que falo português e sou brasileiro. Mas não estou tendo guarita nenhuma, a mais do que qualquer outro. Não tenho vontade, não quero mesmo. É uma página totalmente virada, se rolar aqui agora vai ser por causa lá de fora. Estou trabalhando o disco aqui porque a PolyGram americana bancou: "Você tem que ir ao Brasil, você é de lá e tem que ir lá! Toma aqui passagem! Do que você precisa?" É o que estou falando: junho e julho estou nos principais festivais da Europa, agosto estou no Japão e entre setembro e outubro meu manager americano recebeu uma oferta para que eu abra pro Caetano durante uma temporada enorme que ele vai fazer nos Estados Unidos. Eu recusei, não quero nenhuma comparação. Estou abrindo meu trabalho lá, não quero abri pro Caetano... porque cansei de lançar disco novo e o pessoal dizer: "Vinícius Cantuária, autor de Lua e Estrela, que Caetano Veloso gravou e com a qual ganhou seu primeiro disco de ouro". É sempre isso, eu não quero. Estou num outro caminho e estou indo muito bem. Estou fazendo uma coisa bacana, agora em abril vou tocar com Tom Zé. Vou abrir pra ele, na verdade vai ser um show num lugar muito grande e o David Byme acha que se ambos tocarmos talvez coloquemos 1.500 pessoas lá dentro. Estou com uma mídia muita legal, tá uma febre agora nos Estados Unidos. Falei com Arto hoje, ele me ligou pra falar dessa matéria que saiu no "New York Times". Os caras estão falando direto no meu trabalho, no do Tom Zé e um pouquinho dos Mutantes. Daqui a pouco sobra pro Terço, né? Sabe, na realidade eu acho que se rolar alguma coisa do meu trabalho no Brasil, vai ser via por lá... porque eu acho que aqui não vai rolar. Agora, eu tenho vontade de vir fazer shows aqui. Estava falando com o Arto que acho que, se eu pegar a minha banda, o Arto pegar a banda dele e a gente convidar o Sean e a banda dele, talvez possamos fazer uma noite com os três - cada um tocando por 40 minutos. Dá pra fazer três dias no Canecão e três dias no Palace, entendeu? Isso eu tenho vontade de fazer.
Como é que você conheceu Sean Lennon?
Cara, na realidade eu já conhecia a Yuka do disco do Arto. Ela já tinha me chamado pra fazer alguma coisa com o Cibo Matto, ela queria que eu fizesse uma participação. Um dia eu tava em casa e o telefone tocou: "Hi Vinicius, it's Sean Lennon". Eu falei "opa", ele falou que adorava meu disco "Sol Na Cara" e falou que queria se encontrar comigo pra tocar violão. Eu topei, comecei a ir na casa dele, a gente começou a ficar amigo e ele me chamou pra gravar no disco dele. Eu também o chamei pra tocar no meu disco, a coisa foi super espontânea. Ele é um garoto muito legal, mas é difícil. Eu vou na casa dele e é uma loucura, quando eu sento e pego o violão. Eu sei que aquele violão de madeira de 30 anos era do John Lennon. Você olha aquele piano, você vê fotos deles. Ele não mora mais no Dakota, ele mora em outro lugar. Ele não mora mais com a mãe, ele mora com a Yuka num apartamento no Village - e que também é imenso. A gente pára, vai pra cozinha comer e, quando volta e vai dar uma relaxada, pega um livro e lê uns comentários manuscritos pelo John. Então você tem contato com aquela coisa incrível. Agora, você imagina a pressão que esse garoto tem. Porque ele é só um garoto, tem 23 anos... e não tá nem aí. Mas é foda, o cara vai gravar e tem que andar com seguranças. É uma série de coisinhas...
Tem mesmo que andar com seguranças ou é paranóia da mãe dele?
Não, não tinha... mas ele deu uma declaração na "Time" americana - que saiu até aqui no Brasil-, dizendo que o pai dele foi assassinado pela CIA. Isso foi exatamente há uns 8 meses atrás. Ele disse que o pai dele era um líder e que, se o pai dele falasse pra que 40 mil marchassem pra cima da Casa Branca, eles o fariam, então ele lançou essa teoria e a partir daí ficou grilado e botou. A gente já conversou sobre isso, ele era um ativista e teve problemas por anos a fio pra conseguir o Green Card. Nego não queria dar, mas a opinião pública foi tão massacrante que eles tiveram que dar. Mas eu acho o seguinte, pro Sean não é fácil... e pra mim também não é. Eu peguei as críticas do "Jornal do Brasil" e de "O Globo". O cara do "Globo" falou que o disco dele era a própria maravilha, falando até coisas que eu não acho que sejam. Já o cara do "Jornal do Brasil" fez uma matéria imensa, que me coloca no mesmo saco de David Byrne: "música brazuca pra estrangeiro ver". Nego fala o que quiser. Disseram: "Sean Lennon tocou, mas acho que só pelo sobrenome famoso". Pô, eu acho isso uma sacanagem. O cara é meu amigo, tem todo um envolvimento. E ele tem talento nas veias, ele é um garoto legal e poderia nunca tocar música brasileira. Ele poderia ficar na dele, mas tem interesse por coisas novas e está se aproximando. Ele abre um espaço do caralho pra música brasileira lá fora, porque ele fala mesmo e cita. Ou seja, eu o conheci assim...
Ele esteve aqui no ano passado.
É, e está querendo voltar. Está até a fim de comprar uma casa aqui. Eu cheguei na casa dele, ele tocou uma música minha e depois tocou Oração Ao Tempo, que é uma música do Caetano em que eu toco violão no disco. É um cara interessado por isso, da mesma forma que ele também é interessado na música da Índia. Na Índia saem matérias sobre sua porção indiana, enquanto aqui sai a porção brasileira. Ele tem tudo na vida, podia ficar em casa sem fazer nada. Poxa, a Yoko comprou os negócios dos Beatles. Na realidade, Michael Jackson comprou a editora dos Beatles e ela comprou do Michael Jackson... porque ela não podia comprar direto. A história é essa, ela detém os direitos sobre a parceria Lennon-McCartney, que basicamente abrange a obra dos Beatles. Paul McCartney ficou puto com ela e tudo mais, porque ela também arma pra caralho. E aí o Sean também tem outro irmão, o Julian Lennon, que também fala mal pra caralho dela. Julian reclama do Sean, diz que vai pra Nova lorque e a primeira coisa que faz é ligar pro Sean mas o Sean não liga de volta. Tem um barraco ali, que a gente não sabe qual é. É coisa de irmão, coisa de grana, coisa de família... que envolvem milhões de dólares. Mas eu conheci o Sean assim e o acho um cara muito legal.
E quanto a David Byrne?
É um cara que já tem um nome estabeleci do no showbizz internacional e que detém o repertório do Talking Heads, que é dele mesmo. O contrato que ele fez quando saiu do Talking Heads o garantiu para o resto da vida, então ele é um cara que também, está experimentando. Ele tem um programa de televisão chamado "Live", que é muito legal. Eu vou fazer esse programa agora, Cesaria Evora já fez. É um cara que sempre procura se aproximar de músicas do terceiro mundo - africana, indiana, brasileira. Ele lançou uma coletânea dos Mutantes... É um cara curioso, um cara talentoso. Eu gravei duas faixas nesse último disco dele, tocando percussão e violão. Eu tenho muito contato com ele e agora quando voltar pra Nova lorque estaremos trabalhando juntos na divulgação do Tom Zé. Este show de Nova lorque será importantíssimo pro trabalho que ele está fazendo com Tom Zé. Eu acho David muito legal, é um cara muito interessado. Qualquer coisa de Brasil lhe interessa, ele estava no show da Virginia Rodrigues. Tá antenado com as coisas do Brasil, valoriza e tira o que ele quer de uma maneira legal, sem ser um aproveitamento.
E você, está antenado com o que acontece aqui?
Eu estou na Internet todos os dias, troco emails com as pessoas. Eu tenho uma opinião formada. Eu tenho uma teoria chamada "O Quadrado, O Triângulo e O Círculo": O quadrado: numa ponta Caetano, na outra Chico, na outra Gil e na outra Milton. Tá fechado esse quadrado, ninguém entra. As entradas são superficiais mas são vedadas. E vou te dizer mais: quanto mais perto você está desses caras, mais longe você está de alguma coisa. Não acontece nada quando você está perto desses caras. É um campo neutro, porque são pessoas geniais mas você não recebe crédito. Eu já falei que poderia ter tido crédito de produtor naqueles discos do Caetano, mas tudo bem. Aquilo teria me ajudado na minha carreira futuramente, como produtor ou como qualquer outra coisa. Mas essas pessoas têm uma posição, se eu estivesse naquela posição talvez tivesse sido igual. Você está ali e eles comandam, a mídia compra a idéia dos caras até hoje. Então aquele é "O Quadrado". Dentro dele está "O Triângulo", que tem Tom Jobim no vértice principal e depois João Gilberto e Dorival Caymmi. Dentro de tudo está "O Círculo", que somos nós - que ficamos andando de um lado pro outro, sem chegar a lugar nenhm... Porque a gente tenta se aproximar do triângulo e do quadrado mas nunca chegamos, porque o círculo não tangencia. Essa é a teoria que rola.
Vou patentear e fazer uma camiseta, posso?
Pode sim. E vou te dizer uma coisa: o quadrado é totalmente mais opressor. Se você me pedir pra dizer uma pessoa que seja amiga do Chico Buarque, eu - que jogava futebol com ele e com quem viajei o mundo inteiro - te digo que na hora do "vamos ver" não rola. Quanto mais perto você está deles, mais longe você está de tudo... porque existe um limite total. Eu nunca quis falar sobre isso, mas agora - que moro fora do Brasil, e não estou falando nada errado...
Lobão fala muito sobre isso, mas nego não dá muita corda porque acha que ele está pirando.
Você me perguntou se estou antenado com o que está rolando aqui. Você tem que estar muito antenado, senão você cai nisso o tempo inteiro. (...) Eu estou consciente disso. As pessoas que estão por cima nisso tudo, elas simplesmente mantém isso. É a reação, nós somos humanos. É assim mesmo, se fosse eu talvez fosse igual. Isso, na realidade, é um atraso fodido pra música do Brasil. Quando eu te digo que a "Spin" bota 8 e 7, isso não é simplesmente uma nota. É simplesmente a visão de um cara que não tem responsabilidade nenhuma e está botando ali seu gosto pessoal. Caetano não é referencial nenhum pra ele, muito embora ele seja um gênio. Porra, Chico Buarque é um gênio. Gilberto Gil então, pra mim, é um gênio mesmo. Mas estes caras acabam sempre dificultando alguma ação. Não existe um apoio, mas não se trata de uma obrigação. Porra, eu trabalhei com Caetano por sete anos. Ele tinha obrigação, me conhecendo musicalmente. Eu mandei meu disco pra ele, e ele me disse: "Poxa, estou impressionado; é o disco mais lindo que já ouvi; que coisa linda; que som!" Que ele diga isso pra vocês e pro cara do m. Não diga isso pra mim, porra. O cara tinha que ter a obrigação, muito embora ninguém tenha obrigação de porra nenhuma. Não é essa a palavra, mas o cara nunca fala. Ou seja, eu não sei qual é. Eu estou consciente disso, mas eu não sei se eles estão conscientes.
Numa entrevista recente, nós questionamos este confinamento da música brasileira ao axé e ao pagode. Ele bate em cima de que o momento é esse, defendendo a coisa...
Ele defende porque é mais cômodo, porque fica ali aquela distância... Eu acho isso tudo um retrocesso total, porque muitas coisas estão indo e vindo. No Heineken do ano passado, apesar de ter sido uma coisa muito louca e de a gente não ter tido tempo de ensaiar direito, a coisa ficou muito experimental. Eu já tinha visto, eu moro no Brooklyn em frente de uma concha acústica. Eu vi Chico Science tocando com Nação Zumbi, agora peguei o CD do Otto e sei que tem coisas acontecendo. Nego fala de Cascabulho e Pedro Luís & A Parede, mas eu temo que isso tudo fique no círculo - querendo entrar no quadrado. No triângulo não tem jeito.
Talvez aconteça com eles o que aconteceu com Arrigo Barnabé.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês: eu fui ver, isso aqui aconteceu comigo. Há 17 anos atrás, quando lancei meu primeiro disco pela BMG, minha banda era centrada no Jacquinho Morelenbaum. Algumas pessoas disseram: "Ai, que coisa mais atrasada!" Hoje em dia, 20 anos depois, os caras estão aí. Você está me entendendo? Quer dizer, eu me lembro de ter ido ver o show de Arrigo Bamabé com Caetano aqui no circo do planetário. Eu voltei pra casa e ali percebi que minha música tinha que ser o que eu sei fazer. Eu não mais podia só querer fazer o que achavam. Eu tive que parar e pensar... e disse pro Caetano: "Bicho, isso aí é um negócio, é a primeira vez que eu vejo um show de música que me faz voltar pra casa repensando todos os valores". Eu vi ali uma coisa genial e o cara não decolou, porque... Lá fora eu tenho falado sobre isso, aqui a gente vai ficar falando sobre isso o tempo inteiro.
Aquela geração foi ameaçadora, não?
É, mas aí o negócio é o seguinte. Eu não sei, com essas minhas declarações eu estou sendo crítico do ponto de vista estrutural e do ponto de vista histórico. Não estou sendo acadêmico, não estou julgando o talento. Eu estou falando das coisas e até sei porque a música do Brasil está nesse ponto em que está. Por exemplo, nos anos 70 nós tivemos o fenômeno cantoras. O negócio foi indo, diluindo e aí... por que é que no meio dos anos 70 surgiram Simone, Elba e Gal? Porque elas eram porta-vozes dos caras que não cantavam. A melhor produção do Chico e do Milton era pra Simone e pra Bethânia. Elas foram indo, mas quando surgiu o Rock Brasil a garotada explodiu. Ninguém mais queria ver Simone, ficou pra trás geral. Já tinha passado. Eles vieram com a linguagem, eu moro fora do Brasil e tenho uma ótica. Eu consigo enxergar, eu vejo claramente esses pontos que a gente está comentando aqui. Existe todo um retrocesso da música popular brasileira, até porque não tem espaço pra você fazer e a crítica é muito... é muito... Bem, eu continuo dizendo que toda unanimidade é burra. Cada vez eu acho mais isso, sacou? Por exemplo, eu trabalhei com o Chico e vou dizer uma coisa pra vocês. A idéia que eu tenho de produzir o Chico Buarque, em nenhum momento. passaria pela minha cabeça descaracterizar sua música... porque ela é única. Eu falo isso pra ele, e falo porque tenho que falar - porque sou seu amigo -, e digo: "Se você gravar .um disco na sua casa, sem contrato com gravadora, só de cassete, você vai vender as mesmas 200 mil cópias do que se você lançar por uma grande gravadora... porque as gravadoras não estão preparadas para vender oseu produto!" Agora, uma coisa eu te digo: quando ele grava um disco, a idéia dele é preservar o Brasil. Quando ele toca sua música com Cristóvão Bastos, aquilo é o Brasil. Não tem outra referência, mas o Brasil cresceu e mudou. Então vamos uma coisa com abertura maior, pra dar oportunidade pra outros. Estou falando de som, vamos melhorar o som. Eles ficam na mesma coisa, então eu acho que está rolando a mesma coisa há muito tempo.