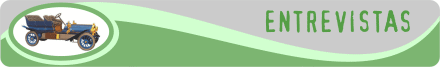 Zé Ramalho
Zé Ramalho

Em 1997 e 1998, Marcelo Fróes e Marcos Petrillo realizaram duas longas entrevistas com o cantor e compositor paraibano Zé Ramalho parar o International Magazine. A seguir, os trechos que se referem aos tempos pré-fama do artista, que começou no iê iê iê, passou pelos bailes do início dos anos 70 e mergulhou no misticismo esotérico que marcou definitivamente sua trajetória.
PARTE 1
Estúdio Lagoa, 21 de fevereiro de 1997
 Todo mundo está comemorando 30 anos de carreira, mas você comemora 20 anos. É engraçado.
Todo mundo está comemorando 30 anos de carreira, mas você comemora 20 anos. É engraçado.
Eu aprendi muito naqueles dez primeiros iniciais, antes do primeiro disco. Apesar de ser um grupo de João Pessoa, Os Quatro Loucos se apresentavam muito em Recife. Foi meu primeiro grupo e eu toquei em quatro grupos de João Pessoa: Os Quatro Loucos, The Gentlemen, o grupo Eles e um outro, que foram os grupos com os quais eu pratiquei bastante. Tocávamos bailes de quatro horas, fazendo um repertório que cobria tudo o que fazia sucesso na época. Eram dois sets de duas horas cada, com quinze minutos de intervalo. Com 16 ou 17 anos você corre o Paris-Daccar fumando e não cansa, né? (risos)
Qual era o repertório? Jovem Guarda?

Jovem Guarda dominava, é claro. Renato e seus Blue Caps eram os reis. Renato Barros é uma das pessoas que mais me inspirou, no sentido de como ele trouxe alegria. Era uma época de pureza, a gente não tinha ruindade. Renato é uma das maiores figuras pra mim e pra minha formação musical, no sentido dele me sensibilizar e me emocionar com aquelas canções ingênuas e românticas e com as versões bem feitas que ele fazia para as músicas dos Beatles, principalmente os vocais. Os grupos de baile da época, cada um concorria com o outro no sentido de fazer o cover de Renato, Roberto Carlos, Leno & Lílian etc. Eu não tenho a mínima vergonha de falar sobre isso, falo com orgulho e com alegria. Ainda me emociono quando me lembro da época em que pegava minha guitarra e subia ao palco para fazer aqueles bairros. Era uma emoção ver o encanto das meninas ao nos verem cantando e tocando guitarra, porque naquela época não existia o que existe hoje. Agora toda casa tem uma guitarra, mas naquela época era coisa rara. O que o pessoal da Jovem Guarda nos transmitiu foi uma escola muito grande, mas está ao lado da música italiana, dos festivais de San Remo, Rita Pavoni. A gente tinha que tocar de tudo, para as pessoas dançarem. Praticar isso durante quatro ou cinco anos deixa uma riqueza enorme, pois você inconscientemente guarda muita coisa.
E o rock? O que ficou, daquela época?
Pronto, eu vou lhe dizer. Vieram o final dos anos 60 e os festivais de rock. Apareceu o quê? Aparece o fumo na minha vida: a maconha. A contracultura começou a ser divulgada, para você ir de encontro ao sistema e à coisa estabelecida. Eu achei tudo isso muito interessante e uma coisa que mudou a minha vida foi a primeira vez que vi "Woodstock". Quando saí do cinema, já era uma outra pessoa. Eu mudei a minha personalidade, eu queria fazer tudo aquilo que vira aqueles caras fazendo. Vi em João Pessoa e passei a seguir o filme, em qualquer lugar que ele fosse passar. Cheguei a pegar ônibus para Recife, só para assistí-lo novamente. As imagens daquele filme foram muito fortes para mim e modificaram completamente minha vida e meu conceito sobre o que eu queria fazer. Naquela época, eu já estava entrando para a universidade e começando a fazer minhas primeiras músicas. Nos últimos grupos, eu cheguei a implantar algumas daquelas imagens de Woodstock. Eu queria quebrar instrumentos que nem The Who, cara, eu achei aquilo tão bonito. Fiz algumas coisas como aquelas muitos anos depois, em meus shows individuais que eu fiz na Paraíba.
PARTE 2
Casa de Zé Ramalho, 7 de dezembro de 1998
Você deve ter reparado no último International Magazine que José Teles escreveu sobre o iminente relançamento de "Paebirú" em CD.
Pois é, quando a gente gravou o "Paebirú" em 74 era assim: a fábrica Rozenblit, aquele parque enorme, ficava na Estrada dos Remédios e era assolada pelas cheias do Rio Capibaribe, que tinham anualmente. Então essas cheias provocavam prejuízos terríveis. No caso desse meu disco, por exemplo, a primeira tiragem foi totalmente boiada nas enchentes... porque lavou as máquinas, encheu tudo de lama e o disco a gente viu naufragar legal. Literalmente, a primeira tiragem deste disco foi por água abaixo mesmo.
Mas mesmo as cópias da segunda tiragem ainda têm a capa ondulada, pois devem ter sido molhadas de alguma forma.

É, a capa eles tinham em estoque. O velho Zé Rozenblit é judeu - tanto que Rozenblit significa "rosas de sangue" - e ele era muito esperto. Na última enchente ele aprendeu uma lição e na cheia seguinte, como você não pode deter a natureza, deu um jeito qualquer para que as máquinas ficassem suspensas quando a cheia começava. Tudo ficava preso no teto, as águas passavam por baixo. Isso dá um filme rapaz, porque é uma verdadeira saga... mesmo porque era gravadora, naquele tempo, já era solicitada e muito alugada por artistas aqui do Rio de Janeiro. Vários artistas da Jovem Guarda gravavam lá também - Bobbyde Carlo, Martinha e Os Canibais, além de Agostinho dos Santos e Claudete Soares. Esse povo todinho gravava lá, sem falar em alguns discos de Bossa Nova que já estavam sendo gravados lá. Era um selo chamado AU - Artistas Unidos...
Mas tinha o Mocambo também.
A Mocambo era o grande trunfo dessa coisa da Rozenblit, que tinha dois selos. A Mocambo foi o label mais trabalhado, porque foi o que vendeu mais coisa.. Se o camarada tiver cabeça pra explorar e oferecer ao público a história daqueles artistas, teremos CDs fantásticos. Tomara que o cara saiba o que tem na mão, pois ele está com toda uma história na mão. Quando você tem registros históricos na mão, para veicular e tornar isso rentável, ganhando dinheiro com isso, ao mesmo tempo você tem que oferecer o valor ao público. O camarada tem que saber como é que vai mostrar isso pra essa geração, porque é um acervo de frevo espetacular que tem lá.
O "Paebirú" é na verdade o "Tropicália" de toda essa geração, já que todos vocês estão juntos ali: Alceu Valença, Geraldo Azevedo etc.
Tá todo mundo, nós tentamos reunir todo mundo. Geraldinho, Alceu, todo mundo tocando e cantando. O disco tem créditos no encarte, tá tudo exposto, inclusive com fotografias das pessoas. O Paulo Rafael tá tocando contrabaixo, inclusive o camarada deveria colocar isso também no CD - já que dá pra fazer aquele libretinho. Eles têm que fazer um libretinho bacana. Olha só, esse disco tem umas coisas curiosas na ficha técnica. Umas coisas engraçadas mesmo. Por exemplo, os instrumentos que as pessoas estão tocando: "mexendo água na cuia da cacimba de Itamaracá"... Coisas bem viajandonas, bem doidonas. Você pode acreditar que o cara trouxe uma água de ltamaracá, dentro de uma cuia, só para "tocá-la"? (rindo) Um outro cara trouxe um bocado de folhas e nós gravamos o "ruído de folhas". Você veja bem, nessa época esse estúdio tinha apenas 2 canais. Imagina o que é gravar um disco como aquele sem headphone nos ouvidos? Como é que a gente escutava? Com dois alto-falantes, um em cada parede do estúdio... como se fosse um quadro. Era uma época totalmente sem tecnologia, então esse disco foi totalmente artesanal. Aquele ali foi "costurado a mão" em 1974.
Ele tem um valor "de um disco emblemático e terá a chance de ser reavaliado... ou melhor, avaliado pela primeira vez?

Para aquela época, aquele disco era muito arrojado. Seria impossível fazer um projeto daquele numa gravadora de porte, como eram as da época. Ou seja, a Rozenblit pegou esse projeto porque a mulher do Lula Côrtes era filha do reitor da universidade, o qual também era judeu e era muito amigo do cara da gravadora. A filha encasquetou pra gente fazer esse projeto e nós pegamos esse tema da Pedra do Ingá, que é uma pedra misteriosa que existe lá na Paraíba - com um grande painel em baixo relevo. Dizem que tem uma grande mensagem decodificada ali e que ninguém nunca soube decifrar, nem com todos os decoders que existem de sinais. Ninguém sabe como é que tá aquela história até hoje, mas é uma coisa forte - não é um simples desenho riscado na pedra. É uma coisa profunda, em baixo relevo e numa rocha de granito. Quando nós fizemos o disco, nós levamos um geógrafo americano que estava fazendo pesquisas com caju pelo nordeste. Por acaso, nós o vimos no meio de uma floresta e nos aproximamos dele. Ele fez algumas pesquisas, pegou algumas pedras e ficou muito impressionado. Ele acha que aquilo é uma coisa vulcânica, é uma coisa que vem de muito tempo. Se vocês fossem lá algum dia, veriam que é uma coisa estranha. Fica perto da cidade de Ingá, entre João Pessoa e Campina Grande. É fácil chegar lá, fica a 40 ou 50km de João Pessoa. Hoje em dia o turismo já facilitou, você chega perto da pedra. É um ponto turístico dos mais valorosos.
Ele foi inspiração para o disco?
Foi sim, pelos quatro elementos da natureza, que nós encaixamos em cada um dos lados dos 2 LPs. A gente desenvolveu os instrumentos cercados dessa coisa. No lado do Ar, a gente usou só sopros: flautas e instrumentos leves. No lado da Terra, a gente pegou muito batuque e explorou as coisas indígenas. No lado do Fogo, a gente meteu umas guitarras. No lado da Água, a gente colocou essas cacimbas que eu tava falando. Então a gente procurou aproximar bem. Na abertura do lado da Água, a gente procurou um Pai de Santo pra dar um ponto belíssimo de Iemanjá e dar uma chamada numas entidades. A gente botou uns efeitos de água, nem hoje eu consigo mais me lembrar como é que a gente conseguiu botar ruídos de água e de cachoeiras. A gente levava uns microfones de uns gravadorezinhos pequenos e ficava fazendo essas coisas no estúdio. A gente tinha pouco recurso de canal e a câmera de eco era o banheiro do estúdio, porque em 74 não existia nada além de 2 canais... o que já era um luxo. De qualquer forma, pra época nós conseguimos tirar um som audível. Tem que ser exposto pras pessoas que é uma coisa rudimentar, é uma coisa primitiva porém criativa. Em momento nenhum a gente ensaiou pra fazer sessão nenhuma. Quem estivesse na área, a gente pegava e ia pro estúdio pra ver o que ia pintar. Começava aí, tanto que o disco é 70% instrumental. Nessa época eu coloquei muito da minha prática, obtida nos grupos de baile. Ou seja, eu toco muitos instrumentos nesse disco. Inclusive os contrabaixos do disco, quase todos sou eu que toco. É praticamente o primeiro disco em que eu coloquei minha voz, pois o Lula não cantava nessa época. Eu fiquei com a tarefa de cantar nesse disco, pois antes eu não cantava. Nos grupos de baile eu só fazia coro. Eu achava que eu cantava muito mal, tinha vergonha de cantar nessa época. Como eu recebi essa tarefa, porque o Lula - muito inibido - não conseguia cantar, eu terminei sendo forçado a cantar e a cantar com segurança, pra não botar tudo a perder. Aí eu descobri, deu certo e as pessoas que ouviram acharam interessante. Pra época foi uma coisa muito interessante, nós reunimos a nata da ocasião.
Alceu Valençajá tinha feito festival aqui no Rio e o Geraldinho também já tinha gravado.
Ah sim. No ano seguinte ele participou do Festival Abertura, mas alguns anos antes ele e o Geraldinho já tinham cantado Papagaio do Futuro no Festival Internacional da Canção, com acompanhamento de Jackson do Pandeiro. Eles já tinham uma passagem por aqui, e eu vim aqui pela primeira vez com essa história do Alceu, porque nessa época a gente anexou tudo. Com esse movimento do "Paebirú", numa cidade como Recife todo mundo ficou sabendo e isso impressionou.
Além disso, ninguém fazia álbum duplo...
... e muito menos com um encarte tão maravilhoso. Era uma coisa gráfica bacana, como o "Acabou Chorare" dos Novos Baianos. Eu sei que deu certo assim e a gente conheceu muitas pessoas através desse trabalho. Em 1975 então, o Alceu viu que eu era muito habilidoso na viola nessa época. Não sou mais, como era nesse tempo. Então eu fui fazer parte do grupo dele, exatamente pra vir cantar a música dele no Festival Abertura. Foi no Teatro Municipal de São Paulo, com direção de Augusto César Vanucci. Daí pra frente foi uma série de encaixes, eu me envolvi muito com o pessoal de Recife, em Pernambuco, através desse trabalho com o Lula: Geraldinho Azevedo, um grupo chamado Ave Sangria (de onde saiu o Paulo Rafael, que trabalha com Alceu até hoje). Todos tinham um intuito muito psicod§lico, o pessoal do Ave Sangria tinha a fama de ser o Rolling Stones do nordeste - tipo aqueles que comiam as meninas. Eram bad boys e os shows deles tinham um clima; eles gravaram um disco, hoje raríssimo, pela Continental. É um disco muito raro chamado "Ave Sangria", uma raridade fantástica que infelizmente não aconteceu. Eles tinham um crooner chamado Marco Polo, que virou jornalista e hoje é editor de um caderno qualquer no Jornal do Commercio, acho. Eles eram um grupo muito famoso na época, era uma espécie de Barão Vermelho na época. (...) Aquele disco ao vivo do Alceu pela Som Livre foi gravado no Teatro Teresa Raquel, aqui no Rio. Eu sou o diretor musical da banda, mas Elba ainda não estáali não. Eu canto uns repentes com ele ali, umas emboladas e tal. Eu faço todo um trabalho de viola ali. Se gravar um disco ao vivo hoje no Brasil é uma dificuldade, imagina naquele tempo! (rindo) Olha, a minha participação de voz foi tão mal gravada que eu tive que ir pro estúdio depois. Os caras não entendiam o que eu tava cantando, nós éramos como uns jagunços chegando do nordeste. Ninguém sabiam de nada, no dia em que foram gravar o disco. Não tinham um diretor pra dizer isso ou aquilo, eles não falaram nada. Eu tive que ir pro estúdio e criar um clima de "ao vivo" pra poder sair no disco. É muito histórico esse disco aí, rapaz.
Não existia muito pre conceito contra vocês nessa época, já que vocês estavam buscando uma coisa mais pop?
Nós sofremos muito com isso. Olhe, tanto em Recife quanto em João Pessoa - que são cidades muito próximas, distando apenas 90km uma da outra. Eu vivia fazendo uma ponte entre as duas e a primeira pressão que a gente recebia eram os xingamentos da época. Você não sabe como era andar com cabeço comprido na época, no nordeste era muito chato agüentar os xingamentos de "cabeludo fresco", "viado", "bicha"... "Vá cortar o cabelo!" Você era xingado na rua o tempo todo, mas eu gostava dessa coisa de cabelo comprido. Não é uma questão de vaidade, é uma coisa com a qual a gente se identifica. Eu gostava daquele padrão propagado na época, de ir contra as regras e os valores sociais. Nós começamos por aí e o fato de tocarmos aquelas coisas, os puristas da época - como Ariano Suassuana - tornaram-se radicais até a última gota. Ele formou o armorial de onde saiu Antônio Nóbrega, ele era o Tinhorão do nordeste. O Ariano absolutamente não simpatizava coin o que a gente estava fazendo. Tinha festivais no nordest.e e obviamente os jurados eram essas pessoas, que tinham conhecimento musical puramente teórico. Eu sei que participei dessas coisas todas e me lembro de que havia uma certa antipatia só pelo jeito da gente entrar no palco e tocar. Como houve aquela história do preconceito contra as guitarras, você se observa que com as proporções devidas - quando a gente aparecia pra tocar num festival com guitarras a gente era vaiado também.
Mas, cá entre nós, você não acha que vocês remaram contra a maré? Afinal, naquela época vocês foram fazer isso exatamente depois de todo aquele ciclo de Tropicalismo, exílio londrino e por fim redescoberta das origens? Naquela época, Caetano Veloso já estava cantando Luiz Gonzaga e Gilberto Gil já gravava com Dominguinhos.
Exato. Na minha cabeça, as coisas que eu pensava eram assim. Eu tava muito atraído pela música como um todo, porém a coisa elétrica me fascinava muito mais. Tanto que eu vim mergulhar nos violeiros e cantadores do nordeste muito depois. Eu quero dizer o seguinte: o que me arrastou e o que me fez ter vontade de tocar um instrumento, ouvindo qualquer música que fosse, foi ter ouvido I Want To Hold Your Hand no rádio. Os primeiros compactos dos Beatles me davam uma agonia, me faziam olhar ao redor e querer tocar um instrumento. E também Parei Na Contramão, do Roberto Carlos, que tocava muito no rádio naquela época. Foram essas músicas que me manifestaram o desejo de pegar e tocar algum instrumento: "Alguém me dê um violão, que eu preciso tocar!" Eu tinha 13 ou 14 anos de idade nesse momento, depois é claro que tudo tocava no rádio eu queria tocar. Mas o que me fez sair de casa e querer tocar o instrumento foram essas músicas, principalmente as da Jovem Guarda.
Como Luiz Gonzaga se posicionava quanto a isso na época?
Eu não me lembro de nada, mas ele era sempre visto como o maior artista dó nordeste. Toda vez que ele chegava lá pra fazer um show havia uma comoção e todo mundo sabia que o rei do baião estava chegando. Era sempre em praças públicas, pra multidões; eu nunca vi um show de Luiz Gonzaga em teatros ou locais pequenos. Nessa época eu ainda o via como aquela figura mitificada, com um folclore em torno dele como "o cara que inventou o baião". A gente via aquilo com um respeito muito maior do que a possibilidade da gente se aproximar dele. A gente tinha receio e um pouco de inibição de se aproximar desses grandes ídolos, mesmo porque a gente ainda era reles músicos de baile. Eu era totalmente imaturo e nem saberia como me aproximar de uma pessoa como Luiz Gonzaga. Lá só tinha AM, eram duas ou três rádios em cada cidade e o que uma tocava a outra também tocava. As músicas, quando chegavam, poucos artistas alcançavam o país inteiro como hoje. (...) Mas, quanto a esse caminho inverso que você tava falando, é engraçado mas foi como aconteceu. As pessoas criticavam mas a gente achava que o que tava acontecendo era o que tava atraindo a gente. A meu ver, quando eu comecei a ouvir mais discos de rock, eu me atraí ainda mais por esse negócio aí. Eu ia pro porão da Rádio Tabajara, em João Pessoa, onde o programador chamado Roberto Carlos me deixava entrar pra ficar garimpando. Tinha discos que eu nunca ouvido falar na vida e que jamais tocariam na rádio. Foi quando eu tive a oportunidade de ouvir Steppenwolf e The Who, através dessa minha curiosidade. Ele deixava eu levar esses discos pra casa. Eu ficava ouvindo esses discos durante algum tempo, depois devolvia e renovava por outros. Eu ia de encontro às coisas, porque você sabe que lá não existiam importadoras de discos. Até hoje no nordeste, pra você encontrar um disco importado você vai ralar. As lojas vendiam só o óbvio, então eu tinha que ir atrás... e nas rádios eu encontrei campo pra ouvir muita coisa. Rapaz, eu ouvi muita coisa... de tudo o que você puder imaginar. E aquele conhecimento que eu obtinha eu procurava de alguma forma passar para os conjuntos de baile, que eram também uma máfia. Os conjuntos tinham suas regras pra tocar certo tipo de música e eu gostava de levar algumas idéias meio malucas. Eu encontrava uma certa resistência por parte do diretor dos conjuntos, que nunca era eu; era sempre o chefe, o dono da banda, que tinha o equipamento e muitas vezes nem tocava porra nenhuma! (rindo) Você tinha que aturar, bicho! Éum tempo sobre o qual eu não tenho vergonha de falar. Você veja só, tem um companheiro meu que saiu desse mesmo universo de conjuntos de bailes: Vital Farias. Eu na: verdade substituí Vital Farias quando ele era guitarrista solo de um grupo chamado Os Quatro Loucos, que era o campeão de João Pessoa. Aquele grupo tinha o melhor vocal do nordeste, ganhou vários prêmios e ele era o guitarrista solo. Vita.l tem umas versões de músicas dos Beatles que um dia, se a gente tivesse a oportunidade de desencavá-Ias, você nem imagina as versões que o Vital fazia. Eram tanto engraçadas quanto romãnticas. Por exemplo, a versão de Day Tripper que ele fazia: "Tenho que ir viajar!" Tá tudinho na cabeça dele. Ele fez uma versão de It Won't Be Long que foi um grande sucesso nos bailes dé João Pessoa. Às vezes acontecia isso, um grupo começava a tocar uma música. "Não vai durar!" Rapaz, isso fez um sucesso. Cara, tamanho sucesso que os outros grupos começaram a tocar também. Umas versões muito bem feitas.
Mas não foi com Os Quatro Loucos que você fez um disco, né?
Não, foi com The Gentlemen - lá também de João Pessoa. Foi o grupo' no qual eu toquei por mais tempo, onde me deixaram fazer alguma coisa e a botar algumas coisas. Gravamos pela Mocambo e o compacto duplo é raríssimo. Eles gravaram um LP também, mas eu só estou no compacto duplo. Esse é muito raríssimo, tem eu cantando uma música. Veja bem, a Rozenblit proporcionava essa oportunidade que era um sonho. Depois que você realizava esse sonho, você via que o sonho era uma coisa fácil e ao mesmo tempo frustrante, porque depois não acontecia mais nada. Você pensava que todo mundo o reconheceria na rua e tal, mas não acontecia nada. Outro grupo de Recife que era espetaculareram os Silver Jets, de onde saiu Reginaldo Rossi. Eles gravaram um compacto pela Mocambo e o guitarrista é Fernando Filizzola, que depois passou a ser violeiro no Quinteto Violado. Esse compacto é de uma raridade, cara, eu me lembro da capa dele. É coisa pra museu, rapaz. Era tudo versão, era a Jovem Guarda de lá. A Jovem Guarda no nordeste teve e sempre terá espaço: Renato, Márcio Greyck e todos mais têm um ninho lá, principalmente em Recife e João Pessoa. Aquilo inspirou a gente e, apesar da gente ter tido esse princípio meio ingênuo e meio brincalhão, várias tiveram essa experiência de baile. Alceu e Geraldinho não tiveram essa origem, nem Fagner, mas Djavan, João Bosco e Raul Seixas têm. Muito embora seja uma coisa "vulgar" e "brega", na visão de hoje, você não deixa de perceber que a prática faz enriquecer muito. Dali sai alguma coisa e muita gente deixou aquilo pra fazer algo, enquanto outros seguiram em frente. É o caso do Roupa Nova e de Jessé, artistas que vieram dessa safra. Não havia preocupação estressante e desgastante de uma carreira profissional, que existe depois que você vê do que se trata. Fiz muitas serenatas, bacanas e organizadas, com ensaio e tudo. A gente fazia um percurso de madrugada por João Pessoa, coisa que é muito difícil ae fazer hoje em dia. Eu participei de tudo isso e me lembro com muito carinho. Não tenho nenhuma vergonha, mesmo porque depois que eu descobri o nordeste é que eu saí de verdade. Quando eu mergulhei no nordeste, foi muito fácil pra mim aprender.
Foi logo depois de "Paebirú"?
Começou ali, logo na sequência. Tânia Quaresma, de São Paulo, tava fazendo um filme chamado "Nordeste e Cordel, Repente e Canção". Ela tava fazendo locações sobre essa cultura do nordeste, enquanto fazia coleta de material para um disco que saiu pela Continental. Eu tenho esse disco, que é raríssimo também. Eu fiz a direção musical do disco, no sentido de rastrear locais onde os violeiros cantavam. E foi através desse trabalho, que durou uns 20 dias, que eu tive um mergulho profundo nessa coisa. Quando eu fiz o contato e nós visitamos a casa de cada um, a gente visitou o interior do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco. Eu tinha feito um mapazinho, mandamos telegramas e demos alguns telefonemas difíceis. Nessa história de servir como cão rastreador, e ponto de contato da equipe com os violeiros e cordelistas, eu sabia naquele momento da oportunidade que estava tendo de pegar na massa. Mandamos telegramas e demos alguns telefonemas difíceis. Nessa história de servir como cão rastreador. e ponto de contato da equipe com os violeiros e cordelistas, eu sabia naquele momento da oportunidade que estava tendo de pegar na massa. O caldeirão tava aberto, eu meti a mão ali dentro e aquilo acabou com a minha cabeça. Eu sou o produtor do disco, mas eu e Lula Côrtes aparecemos cantando um repente de Zé Limeira; e eu também acompanho três violeiros, porque alguns são só cantadores e não se acompanham. Mas o mergulho foi impressionantes, porque eles me mostravam tudo. Depois nos fomos pras feiras no interior do Ceará, onde eu vi um cego velhinho que tocava uma beca e cantava um romanceiro enorme. Aquilo tudo acabou com a' minha caoeça, me deu um reset e eu comecei a me encher só com esse universo aí. Depois disso aí é que eu comecei a aprender a escrever letras de música, porque eu tive a oportunidade única de me enfiar nesse universo. Quando eu voltei, fiquei bebendo de tudo: lendo os livros que eu podia, indo a todos os encontros e festivais de cantadores etc. Eu passei a ser convidado como membro de júri e apresentador, porque eles perceberam a minha simpatia e o meu carinho. Foi incrível, eu e o Geraldinho Azevedo fizemos a trilha sonora desse filme... mas só eles aparecem! É um filme muito bem feito e é uma pena que a Embrafilme não tenha conseguido. Eu tô de olho nesse Canal Brasil da NET, espero que passe.
Como você e o pessoal da sua geração vêm essa reciclagem da música nordestina nos últimos anos?
Eu acho incrível, o nordeste oferece um polo impressionante de cultura. Essa coisa do manguebit surgiu naturalmente, mas os caras fizeram um troço muito visual também. Eles estão trazendo uma coisa bem tribal, com muito batuque e eu acho isso incrível. É um trabalho pra ser exportado, pra ser visto pelo mundo todo. Cascabulho não existe sem Jackson do Pandeiro, mas eles nem são do estado dele. Olha só a admiração que eles tiveram, enquanto muita gente da cidade de origem do Jackson nem sabe quem ele é. Jackson lançou muitos discos mas morreu muito pobre, como Cartola e muitos caras que não tiveram reconhecimento... nem mesmo das editoras. O sobrinho do Jackson, Zé Gomes, toca comigo. No geral, esses grupos novos abriram um leque muito interessante... com guitarras, performances e coloridos pra serem vistos aí fora. O Cascabulho tocou no Central Park de Nova Iorque e foi espetacular. A coisa do rap tem que ter uma dicção muito boa no português, ou então é preciso que se desacelere um pouco o beat. Muitas vezes eu não entendo o que os caras estão cantando, afinal eles colam o microfone na boca. Tem umas coisas do D2 que eu não consigo entender, como também dos Racionais. Os caras são agressivos, eu queria entender o que eles estão cantando... mas isso só se você consultar o encarte do CD. Não dá, às vezes isso prejudica o trabalho.
Por quê o trabalho em parceria com o Lula Côrtes não prosseguiu? Você pulou pra carreira solo ou você brigaram naquela época?
Nós só viemos a abrir nos últimos anos da vida. Nós sempre tivemos uma relação muito amistosa, tanto que - com relação a este disco, "Paebirú" - nós tivemos pleno pensamento do que iríamos fazer. Nós não tínhamos compromisso e nem cumplicidade nenhuma pra efetivar uma carreira de dupla, não era isso o que a gente tava pretendendo. Mesmo porque, quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, eu tive um momento de lucidez e passei pela Rozenblit pra pedir a minha rescisão de contrato. Eu não sei porque eu tive esse intuito e quem me deu essa rescisão foi um grande cantor de frevo, Claudionor Germano. Ele era o rei dos crooners de frevo e, por ser um dos grandes vendedores de discos, ficou com uma gerência artística. Ele olhou pra mim e me deu a minha rescisão. Eu fiquei com o meu papel e vim pro Rio. Quando fui assinar com a CBS, depois daquele período tortuoso de muito tempo nos corredores das gravadoras, eu tava com o documento guardado. O mesmo não aconteceu com o Lula Côrtes. Quando ele veio pro Rio no final dos anos 70, ele gravou um disco na Ariola e começou a fazer sucesso nas rádios. Era uma balada poderosa. Sabe o que aconteceu? O disco teve que ser retirado de catálogo e a Ariola ainda teve que pagar uma multa à Rozenblit, porque eles vieram em do ele veio pro Rio no final dos anos 70, ele gravou um disco na Ariola e começou a fazer sucesso nas rádios. Era uma balada poderosa. Sabe o que aconteceu? O disco teve que ser retirado de catálogo e a Ariola ainda teve que pagar uma multa à Rozenblit, porque eles vieram em cima. O Lula não tinha pego esse papel e o cara não perdoou. É um disco interessante, muito bem feito. E eu sei que foi terrível pra ele, porque ele viu que a carreira dele estava decolando e ele foi abatido em pleno vôo. Pararam tudo, todo o processo de execução em rádio, foi tudo parado. Ele nunca mais teve outra chance, porque ficou famoso no meio. Ele ficou queimado e isso queima a pessoa... porque, pra efeito prático, foi ele quem fez a cagada e ficaria chato pra qualquer gravadora. Ele nunca mais conseguiu, nem mesmo se interessou em fazer por lá. Pela vida que eu me lembro, esse camarada tem assim uns 3 ou 4 discos completos todos gravados e arquivados, porque nunca foram lançados. A gente só foi abrir recentemente, de uns dois ou três anos prá cá, por motivos extras. Não tem nada a ver com música, muito ,embora como forma de retaliação eu tenha tido problemas editoriais para regravar uma música nossa. Essas coisas vêm de bobagem e eu sei que lamentavelmente ele está mal de saúde. Eu soube recentemente que ele parece estar com câncer de garganta e estar necessitando de cuidados. Ele sempre foi muito extravagante, nunca e em momento algum ligou muito pra saúde. Sempre esteve muito perto dessas coisas, tanto que não foi um espanto pra mim quando me falaram. Foi uma consequência, agora obviamente ele foi um cara que incentivou muita gente nessa época lá em Recife. Ele era muito conhecido, porque também era pintor e pinta quadros a óleo com uma rapidez impressionante. Você nem imagina como ele tem talento pra isso, tanto que teve uma época em que eu achava que ele deveria se dedicar mais a uma coisa ou à outra. Mas a gente nunca sabe onde é que vai bater o final da história.
Você comentou a história do "Paebirú" e a viagem pelo interior do nordeste, quando fez a trilha sonora daquele filme. Como é que as viagens de ácido pintaram?
Lá pelo Recife começaram a chegar essas coisas de ácido e essa onda dos tais cogumelos. Foi nessa época que eu tive a tal revelação do Avohai, numa daquelas experiências. Eu, com todo aquele conhecimento que eu tinha tido recentemente com os violeiros, achei incrível. Foi a única música relacionada a alguma coisa misteriosa ou espiritual. Só existe essa música aí, da forma como ela chegou. Ela não chegou durante a experiência, ela veio dias depois; durante a experiência, eu apenas fica ouvindo aquela coisa de "avohai, avohai" durante a viagem... num pasto muito verde, com uma sensação de liberdade... Foi aí que eu tive uma visão incrível: uma sombra de um disco voador enorme, que quase tomava o céu - de um horizonte ao outro. Era uma nave-mãe gigantesca, por detrás das nuvens e com todos os contornos e com aquelas janelinhas. Eu tinha tomado um chá de cogumelo, mas a gente tinha feito uma pesquisa sobre o assunto antes. Porque, na universidade que a mulher do Lula freqüentava, tinha um livro que ela trouxe. Era uma enciclopédia só de cogumelos - comestíveis e não comestíveis, venenosos e não venenosos, alucinógenos etc. A gente foi para o pasto com o livro debaixo do braço, afinal tinha fotos grandes que permitiam verificar com precisão... (risos) Deu tudo certo, fizemos umas cinco viagens desse tipo. Muita gente pira, tanto é que algumas pessoas não conseguem retomar. Tem gente que não volta, é muito forte o negócio.
Como foi a história de Avohai?
Eu tava olhando para um quadro na parede, com a cidade em que eu nasci. Tinha uma montanha com uma cruz na frente e começou a chegar aquela história. Eu tava com o violão, peguei Uma caneta e veio tudinho assim. Eu peguei o violão depois e cantei novamente, mas não tinha gravador nenhum por perto. Era aquilo mesmo, nunca mais esqueci e depois saí daquele quarto com a música na cabeça e comecei a mostrá-la pras pessoas. Não modifiquei nada na letra, apenas um compasso no andamento. Na demo original há um compasso diferente, inclusive essa demo foi gravada quando eu tava perambulando pelo Rio. Eu a gravei na PolyGram e comigo estão dois violeiros, Pedro Osmar e Ivison Wanderley - este último guitarrista canhoto do Ave Sangria, desses caras que nasceram para aquilo e que você fica babando vendo o cara tocar. Tanto que a viola da gravação final tem esse cara mesmo tocando, impressionante porque ele é canhoto e apenas virava a viola de 12 cordas, criando posições sem precisar inverter as cordas. Aconteceu que a música Vila do Sossego, que a gente gravou nessa mesma demo, quando a gente foi apanhar a fita definitiva, eles tinham tirado. Eles cortaram a fita e tiraram essa música do meio, daí eu nunca mais encontrei Vila do Sossego. Na fita estão Avohai, depois uma bem triste chamada Adeus Segunda-Feira Cinzenta e por fim Jardim das Acácias. Eles tiraram Vila do Sossego da fita e eu fiquei paranóico na época, tanto que corri pra Sigem para que ela fosse editada. Ela era ligada à Globo e o Alceu já tinha editado algumas coisas por lá e me apresentado algumas pessoas. Isso foi um detalhe que eu nunca esqueci, alguém deve ter sentido alguma coisa naquela música. Eu fiquei com medo, porque ela era um "piece of resistance" minha. Recentemente, Elba Ramalho e Adriana Maciel gravaram essa música. Eu sabia que ela era uma música boa, mas foi essa demo mesma que eu peguei depois e passei para um cassete, para ficar mostrando para os caras aqui no Rio. Andei pelos corredores, mostrando para Durval Ferreira e outros da Odeon. Foi terrível porque a CBS era última que tinha, mas aícalhou que o Fagner já estava lá e tinha vendido 30 mil discos - o que era um escândalo pra época. Era um fenônemo, porque Roberto Carlos era o único que vendia e a CBS só tinha boleros e Jovem Guarda. Foi aí que eles disseram "vamos ver o que é que tem mais aí" e o Fagner disse: "Esse cara aí, o Zé Ramalho, é bem legal". Eu não vim logo depois dele não, antes teve Amelinha, Robertinho de Recife etc. Eu me lembro da cara do Jairo Pires quando ele ouviu Avohai, porque ele sentiu um negócio. Ele é um cara espiritualizado e o negócio abalou: "Vamos gravar". Quando ele falou isso, eu senti um alívio... porque eu nunca mais ia voltar pra João Pessoa se não tivesse resolvido a minha situação. Eu já estava muito cansado, resistindo muito por aqui...
Você estava vivendo de shows?
Nada, eu tava vivendo de... tudo que você puder imaginar...
Olha que eu imagino bem, hein.
Eu trabalhava com o Professor Hildebrando Gomes, que tinha uma gráfica na Rua da Carioca. Ele me ajudou muito, eu batia santinho naquela máquina manual. Eu fazia esse gesto pelo menos umas mil vezes ao dia, para ganhar um troco... Eu empurrei cadeira de aleijado ali da Av. Rio Branco até o apartamento que ele tinha ali perto dos Arcos da Lapa. Eu fazia isso quase todo dia, porque o cara vendia bala... Sabe o que é que esse camarada me dava? Ele não me dava dinheiro mas me dava um baseado se eu fizesse esse trabalho todo dia pra ele. Teve um dia que eu estava tão ansioso pra fumar logo, que empurrei a cadeira dele com muita rapidez e ele morreu de medo... (risos) Aventuras, bicho!
Mas você não chegou a subir morro, né?
Não, isso não. Tinha umas meninas que me davam uma merreca, o que virou aquela história do Garoto de Aluguel. Essa música foi inspirada nessa fase. Ao mesmo tempo, eu não queria levar meu problema para a casa de ninguém. Mesmo já conhecendo Geraldinho, mesmo já conhecendo Alceu, eu não queria chegar na casa deles nem pra pedir pra dormir. Eventualmente eu aparecia para bater um papo, almoçar, tomar um café ou comer um lanche com eles, mas era só isso. Eu não queria trazer problema, afinal o problema era meu e eu tinha que resolver o negócio sozinho. Eu vim pra cá numa de resolver os problemas por minha própria conta.
Solteiro e sem filhos?
Eu já tinha filho de meu primeiro casamento, pois me casei com 20 anos - coisa que ninguém faz. Casei mesmo, por pura implicância, por pura birra e por pura bobagem mesmo. Tanto que meu filho mais velho, que nasceu desse casamento, o Chirstian já era nascido quando eu vim pro Rio de Janeiro. Ele formou-se em Arquitetura agora há quinze dias atrás. É o primogênito, o bichinho já tinha nascido e eu o havia deixado com a mãe. Eu vim pra esse negócio aqui porque eu tava no segundo ano de Medicina na Faculdade de João Pessoa em 1976, ano em que eu vim pra cá definitivamente. Mas, até eu tomar essa atitude, eu tava já chegando perto de me formar sem saber absolutamente de nada. Eu tava ali por pura pressão da família, que queria que eu fosse o médico da família. E era complicado pra mim, cara, mas o caso é que eu tive um primeiro grau muito bem feito. Eu estudei em colégios muito bons, dos Irmãos Maristas - que eram rigorosos nessa época. Eu estudei em colégios tradicionais, todos com educação européia, e eu tive um gosto da porra pelo estudo. Quando eu passei para o segundo grau, comecei a achar as coisas complicadas... porque aí coincidiu com a coisa de eu ir tocar nos grupinhos. Quando eu desci, eu tava num tédio só na universidade. Você imagina a minha cara diante do drama da família, super tradicional no nordeste: chegar em casa e olhar pros caras, dizendo: "Olha aqui, pessoal, eu não vou mais pra universidade! Eu vou parar de estudar e vou embora pro Rio ou pra São Paulo, porque o meu negócio é música!" Você imagina a cara das pessoas! (rindo)
Você depois trouxe a família?

Não, ficaram lá até hoje. Porque a aventura seria grande, né? Tanto que a minha família deu uma grande cobertura a essa minha primeira mulher e ao filhote, no sentido de não deixar faltar nada. Foi a única coisa que eu pedi a eles. Porém, vim pra cá sem contar com o sustento de ninguém; eu vim por mim mesmo. Eu fiquei por aqui, pelas tabelas legal. Era muito difícil manter o asseio do corpo e roupa limpa. Durante muito tempo, eu me alimentava assim com pão e água aqui... e não reclamava não, porque eu havia pensado em tudo isso. Eu passei o ano de 76 todinho nessa, tanto que a virada de 76 pra 77 foi horrível. O que eu fazia era me infiltrar em shows, tinha muitos shows no MAM, no Arpoador e do Teatro Teresa Raquel. Eu fiz vários shows à meia noite no Teatro Opinião, de vez em quando eu alugava. Quando o Fagner ou o Geraldinho faziam alguma coisa, também me chamavam. De tanto eu aparecer nesses locais, as pessoas de vez em quando me escalavam. Por exemplo, o Parque Lage tinha muita coisa... era uma loucura, era um território íivre onde se faziam os shows mais underground que você imaginasse. Nego queImava fumo ali direto, não era importunado. Era um local muito free, naquele momento parecia que o final da ditadura era propício pra quem fazia esse tipo de música. Os caras não reprimiam nada disso, nego tava atrás era de comunistas ainda. Eu me apresentava em todos esses lugares, em alguns locais as pessoas ficavam já me conhecendo. Avohai já era conhecida, tanto que teve uma rádio aqui do Rio de Janeiro que começou a tocar aquela demo. Ela foi muito simpática, percebeu a coisa do nordeste e fez um especial só com os nordestinos. De tanto me verem enfiando a cara, eles resolveram lançar minha música na programação. Engraçado, o Rio de Janeiro tinha esses lugares que não tem mais. O Morro da Urca era muito intenso, rolava muita coisa ali e tinha muita gente. Eu achava esses shows muito importantes, esses shows à meia noite eram fantásticos. Eu tenho alguns deles gravados em cassete, um deles eu fiz com Geraldinho Azevedo e com o grupo Soma. O nome do show é "Sopa de Morcegos na Boca do Rock", com uma programação tripla que abria com o grupo do Soma. Aquele povo todinho tocando: Alírio Lima, Bruce Henry e Jaime na guitarra. Depois vinha Geraldinho com um grupo que ele armou e que tinha até um cara tocando celIo. Eu entrei acompanhado sabe de quem? Do grupo O Peso, cara! Gabriel, Geraldo, Constant... esse povo todinho. Um empresário louco, que havia me trazido aqui pro Rio de Janeiro, me colocou em contato com O Peso e o contratou para me acompanhar nesse show. Obviamente foi um fracasso total, cinco pessoas viam por dia... mesmo com o peso do Peso. Mesmo assim, o cara teve que vender carro e um bocado de coisas pra pagar todo mundo. Eu me lembro das confusões com o grupo Soma, que era profissional e não queria saber desse negócio não. Era uma fase antes do "Avohai", mas muitas músicas só foram ser gravadas no meu quinto disco - "Pra Não Dizer Que Não Falei de Rock", que deve ser finalmente relançado em CD agora em 1999. Eu botei todas aquelas músicas nesse disco maluco, porque ele quebra uma história. A maioria dos fãs acha que bosta quando lancei aquele álbum, mas foi uma coisa intencional. Eu tava me separando de Amelinha, tava vindo de Fortaleza pra cá e vinha com uma revolta muito grande da vida. Estava de saco cheio daquele negócio das pessoas me chamarem de "Profeta da Caatinga", "Messias do Sertão"... Me chamavam de tanta coisa, e eu resolvi fazer um disco proposital. Eu cortei o cabelo, raspei a barba e fiz a capa em cima do "Rock'n'roll", do John Lennon. Aquele coquetel de sexo, drogas e rock'n'roll era o momento; um lado do disco eu fiz todinho com aquilo, registrando aqueles rocks iniciais - era uma parte da minha vida que tinha que ser registrado. Eu achei que aquele momento era propício, errado ou não eu fui e fiz aquele negócio. Obviamente deu uma confusão, as pessoas acharam que a gravadora é que tinha me imposto e me forçado a tirar cabelo e barba. Mas era uma bobagem, pois os caras ficaram é putos... Eles não entenderam nada: "Pô, o Zé Ramalho tá pirando! Tirou a barba e cortou o cabelo e tá tirando onda de crooner de rock'n'roll!" As pessoas achavam que o compositor nordestino tem por única obrigação, quase que como regra, fazer forró e xaxado e cantar coisas ligadas somente à sua terra e à sua origem. Eu fiquei um pouco revoltado com essas coisas, eu tava puto com essas coisas. Resolvi um trabalho pra desmistificar isso, errando ou acertando eu resolvi fazer. "Ah nordestino nunca vai aprender a tocar essas coisas, eles são um bando de pau de araras e só sabem fazer aqueles nheco-nheco deles". Tem uns caras daqui, uns historiadores cujos nomes eu nem vou citar - pra não incendiar o circo de ninguém -, que dizem que "forró é uma dança pra quem gosta de matar barata". Tem um historiador "célebre" aqui do Rio de Janeiro que acha isso, mas é isso o que ele acha e não tem nada não. São coisas desse tipo, que você observa assim e vê que a música não é pra isso; é muito maior. Erasmo Carlos canta The Fool On TheHill comigo, Wanderléa e Zezé Motta cantam comigo uma música chamada Mulheres - uma parceria minha com Jards Macalé, olha que coisa chique! Uma preta e uma branca cantando uma oração que a gente fez pelas mulheres! Uma coisa linda! Aí temos Lafayette tocando teclados, os Golden Boys fazendo coro e toda a uma turma pra fazer o lado dos rocks. .Eu conseguia me comunicar com eles e eles me entendiam. (...)
Você tem um xodó enorme por esse disco!
Tenho, eu gosto muito. Eu tô cantando com raiva, cara; nos outros discos que eu fiz em seguida eu já tava batido, a minha voz ficou muito velada. Eu passei por um processo muito desgastante de drogas e não fiz bons discos, mas tudo que aconteceu foi a forma de eu chegar até aqui, onde eu estou hoje. Conseguir sair desses territórios e dessas áreas por onde andei foi o caminho de eu chegar até aqui. Eu tirei minhas lições, aprendi o que é perigoso e o que não é; e o que vale e o que não vale. Eu saí de várias coisas e hoje em dia eu procuro apenas conduzir meu trabalho. Eu consegui uma coisa difícil, que é retomar uma carreira que estava praticamente sepultada. Nos anos de 89/90 eu tava me sentindo praticamente assim, porque eu dizia pra mim mesmo: "Olha cara, você é um cara praticamente em fim de carreira; se conforme porque você vai ser sempre lembrado e respeitado! Não vai acontecer mais nada!" Eu procurei me acostumar com essa idéia, pra não ficar cheio de pose. Tem que cair na real, eu sempre me falava isso diante do espelho. Mas nem por isso ficava depressivo ou desesperado, apenas conformado e consciente de que o que aconteceu até ali foi por minha própria conta. Em minhas orações, porém, eu comentava sobre o esforço que estava fazendo para largar a cocaína, achando que merecia uma nova chance. Eu tentei me preparar, continuando a compor e fazendo coisas novas. Em 1992, eu fiz um disco ainda pela Sony porque uma novela da Globo utilizaria uma versão do Aldir Blanc que o Mariozinho Rocha me chamou pra gravar. A música estourou e foi uma loucura, naturalmente sem jabá nas rádios porque eu tava sem gravadora. Era uma brincadeira... mas aí o Marcos Kilzer tinha ido ser diretor de cast da Sony. "Topa fazer um disco? Eu só tenho esse budget aqui, normalmente só daria pra você gravar três faixas!" Era uma merreca, mas eu encarei fazer e levei meus músicos para o estúdio Impressão Digital. O "Brasil Nordeste" saiu pouco depois do "Frevoador", mas não deu pra fazer nada por falta de verba. De qualquer forma, serviram pra dar uma amostra de que eu ainda estava vivo. Eu fiz alguns programas de TV e a partir dali eu me senti estimulado a fazer algo mais. Tanto que, quando Geraldinho Azevedo. veio morar neste mesmo edifício, a coisa foi definitiva. Ele veio pra cá em 94 e a gente se aproximou ainda mais. Fagner foi um dos primeiros moradores desse prédio, é um dos caras que comprou seu apartamento na planta...
A referência de vocês no pessoal do manguebit começou exatamente nesta mesma época.
Ah sim, exatamente, pelo que a gente havia plantado em nossos primeiros discos. Quando ele chegou, as coisas começaram a acontecer. Nós montamos o show "Dueto", nós começamos a ensaiar aqui em casa com nossos músicos. Esse show rendeu 60 apresentações no Brasil inteiro durante 1 ano. Foi engordando, ganhou forma ao ponto de a gente fazer 3 apresentações aqui no Canecãopara que fossem gravadas para um disco. Alceu e Elba foram ver o show e daí nasceu "O Grande Encon tro"... O "Dueto" é da Companhia dos Técnicos, que nunca conseguiu vender o tape pra gravadora. Nós já tentamos comprar o tape, porque é um filet mignon. O material não se confunde com "O Grande Encontro", pois na verdade o próprio "O Grande Encontro" deixou muita coisa de fora e que poderia render um segundo volume daquele primeiro show. Alceu e Elba, vendo o "Dueto", tiveram vontade de fazer também um dueto deles. Aí um cara da Bahia sugeriu que todos nós ficássemos juntos, comprando os primeiros shows e faturando bastante. As coisas começaram a se encaixar. Elba foi pra BMG, gravando Chão de Giz e fazendo muito sucesso. Nesse interim, eu tinha comigo o disco "Cidades & Lendas", que eu havia gravado por conta própria e que havia guardado aqui em casa. Eu havia produzido em silêncio, na época em que eu quis ficar na Sony e eles nem quiseram ouvir. Eu banquei o disco, tava vivendo de shows... aliás, minha agenda anual é enorme. Na verdade, Alceu já era da BMG e Geraldinho e Elba também. Elba Ramalho foi lá e disse: "Vocês têm que trazer o Zé Ramalho pra cá também!" Ela foi meio decisiva nisso.
Fagner também é de lá.
Fagner também, exatamente. Com o interesse da gravadora no "Grande Encontro", eles resolveram me chamar. Tava mais ou menos nesse impasse, porque eu tava com um contrato com a Velas na mão. Marcos Kilzer tava indo pra lá e eles queriam me levar. Eles me queriam, tavam oferecendo um advance interessante e tal, mas eu fui esperto e fiquei esperando. As coisas estavam acontecendo muito rápido, Cássia Eller tinha gravado Admirável Gado Novo e vários jornalistas estavam vindo atrás de mim. "O Grande Encontro" tava arrastando muita gente jovem para os shows. Nós fizemos o ano inteiro de 95 e entramos em 96 com esse show...
Esse disco fez um grande sucesso e o seu álbum duplo solo seguinte, também. Daí veio o "Grande Encontro 2", que rendeu muitos boatos sobre problemas internos. O que realmente aconteceu?
Pelo fato do Alceu não participar, né? Vamos bem, eu vou te contar o que aconteceu. Quando chegou a hora de gravarmos o segundo disco, Alceu topou mas quis fazer ao vivo. Aí nós lhe dissemos: "Olha Alceu, ao vivo nós acabamos de fazer um! Se formos fazer um novo disco ao vivo, não haverá novidade alguma! Na verdade, a minha intenção, de Elba e de Geraldinho - de comum acordo, pois já conversamos - é a idéia de fazer um disco de estúdio, exatamente para mostrar os dois lados. Já fizemos um disco ao vivo, agora trabalharemos em estúdio para mostrar coisas novas e tal". Alceu bateu pé, pois em seus discos ele geralmente não permite que seus arranjos sejam mudados por outra pessoa. Muitos artistas são assim, só que ele é radicalmente fechado; então, pra gente fazer um disco em conjunto, do jeito como a gente fez o "Grande Encontro" ao vivo no estúdio, a gente teria que ouvir o que cada um acha. Romanticamente, eu imaginava fazer um trabalho em equipe... mas ele se recusou terminantemente. E a gente, com a vontade que a gente tava, resolveu fazer sem o Alceu.
E nessa ele saiu da BMG e foi pra Som Livre e depois pra Sony.
Só que ele não saiu da BMG por esse motivo, ele saiu por outros motivos. Ele não quis permanecer mais na BMG, brigou e bateu pé... por coisas que ele deve ter lá seus motivos. Mas eu sei que, na falta do Alceu, a gente ficou: "Quem é que vai substituir o Alceu?" Aí se pensou se daria certo ou não chamar Dominguinhos, Belchior etc. Geraldinho chegou até a falar com Robertinho de Recife se Geraldo Vandré seria um nome provável. Ventilou-se muitos nomes e o Fagner foi sugestão minha. Agora acontece que os relacionamentos dos artistas entre si muitas vezes não combinam direito em determinado momento. Fagner é um cara que tem relacionamentos muito tempestosos com artistas no passado, ele teve muita briga com pessoas no passado. Com colegas, mesmo. Eu sou um cara que tem uma rara missão - já disseram isso pra mim -, porque eu entro na casa de todo mundo... sempre como amigo. Aqui nesse prédio, por exemplo, moramos eu, Fagner e Geraldinho. Eu entro na casa dos dois porém Geraldinho e Fagner não se falam... há muito tempo, eles têm uma outra história longa. Eu percebo isso e tenho que respeitar, porque cada um tem suas razões e seus motivos. Porém eu quero dizer que entro na casa de todo mundo, eu procuro entender mais as pessoas.
Então, com esse problema pré-existente, como é que você foi pensar em chamar o Fagner pra cantar num disco com Geraldinho?
Eu vou lhe dizer qual foi a minha idéia. Eu queria fazer o disco duplicar, botando uma pessoa com tanto peso quanto Alceu. "Se a gente botar o Fagner, vai ser uma confusão da porra!" A gente uniria Pernambuco, Paraíba e Ceará. A gente teria o nordeste inteiro, eu tinha uma idéia totalmente romântica da coisa. Cada um de nós tem um tipo de relação com ele, porém ele sempre brigou com Elba e com todo mundo. De qualquer forma, eu ainda fui falar com ele. Primeiro, eu liguei pra Luiz Oscar Niemeyer (presidente da BMG)... em Nova lorque, pra saber o que é que ele achava da idéia. Ele não desmaiou quando ouviu a idéia: "Ô companheiro, fala com de, pergunta a ele". Eu e Robertinho fomos lá na casa do cearense, pra fazer o convite pra ele num Domingo de tarde... cheios de rodeio: "Você não vai bem substituindo Alceu, você vai ser o convidado especial, fará uma participação especial". A gente ainda tava vendo como é que seria, mas eu achava que ia ser uma loucura se pintasse uma harmonia entre as pessoas. Agora, de qualquer maneira, a gente conseguiu convidá-lo e depois então teve que falar com Elba e Geraldinho. Falamos com cada um em separado, porque eu sabia que com cada um ele tinha problemas. "Olha, o que você acha?" Elba foi a que mais torceu o nariz, porque ela não tem jeito e não tem jeito dos dois se darem bem. Contudo, eu não consegui entender porque é que naquele ano ela participava do disco do Fagner! (rindo) Eu, vendo aquele negócio, havia pensado: "Então tá tudo certo! Não tem problema nenhum!" Não dá certo porque eles batem de frente. É incrível, porque não dá pra controlar. Pega fogo. Ele aceitou a proposta, mas aí aconteceu o seguinte: nós íamos fazer sessões separadas, sem os artistas se encontrarem. "Abbey Road" total, nós ainda chegamos a fazer uma sessão belíssima com Fagner no estúdio do Robertinho. Ele estava com Naná Vasconcellos, Jamil Joanes no baixo etc. Fizemos Eternas Ondas e Penas do Tiê, para que nos outros dias complementássemos. Depois dessa sessão, cara, eu saí do estúdio dando carona pra eles no meu carro. Deixei eles aqui no Fiorentina pra saideira e vim pra casa, pra dormir. No outro dia, quando o dia amanheceu, o fogo já tava pegando. Claudinha, mulher de Robertinho, já tinha ligado chorando porque o Fagner tinha ligado pra lá de manhã cedinho, esculhambando aquela produção porque ele queria produzir tudo. Deu uma louca, eu não sei o que é que eles tomaram. Eu não sei o que é que entrou na cabeça, porque eu deixei os caras bonzinhos e quando eu acordei o mundo tava pegando fogo. Eu lavei as mãos e saí fora! (rindo) "Vamos fazer o disco só nós três mesmo!" Pronto, terminou assim a história. Mas eu gosto muito desse disco.
E quanto ao seu novo disco?
Depois o abre-alas que foi o "Antologia", eu sabia que o próximo seria um disco de inéditas... para que ninguém dissesse que eu vivo do passado. Eu já tinha material, já vinha falando dele. O próprio projeto de Raul Seixas eu também já estou anunciando há algum tempo, que é pra ninguém se assombrar quando chegar a hora. É concreto, vai rolar, esse projeto já está em andamento na minha cabeça. "Eu Sou Todos Nós" tem material de três anos pra cá, eu procurei mergulhar no universo musical. Robertinho deixou eu fazer praticamente todas as 'violas, porque ele tem uma responsabilidade de produtor e é um grande guitarrista. Eu respeito muito suas idéias. É um disco feito para os fãs, talvez algumas pessoas não gostem porque ele é dirigido exatamente para os fãs... Eu tracei um perfil dos meus fãs, a partir de e-mails enviados através de duas homepages que tenho controladas por pessoas do nordeste. Letras visionárias, um disco místico cercado de mensagens para este final de milênio. Disco novo é complicado de trabalhar na mídia, porque a própria gravadora às vezes faz cara feia, a rádio sempre faz cara feia e a crítica sempre faz comparação. Obviamente tem pessoas que gostam e outras que não gostam, enquanto "Antologia" foi uma unanimidade. De uma certa forma, a boa maioria fez comentários entusiásticos sobre o disco, que já saiu com 100 mil cópias vendidas. Eu nunca lancei disco num final de ano, eu sempre lancei disco depois do carnaval... porque dá pra desenvolver o ano inteiro. Essa correria de final de ano eu estou experimentando pela primeira vez.